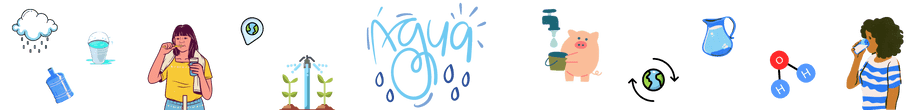Quer receber os textos desta coluna em primeira mão no seu e-mail? Assine a newsletter Xeque na Democracia, enviada toda segunda-feira, 12h. Para receber as próximas edições, inscreva-se aqui.
Eu me lembro exatamente do momento em que soube do desaparecimento de Dom Phillips na Amazônia. Uma jornalista da Agência Pública, que coordenava nosso centro cultural no Rio de Janeiro, me chamou no WhatsApp e me perguntou se eu sabia da notícia. Senti um aperto no peito. Dom Phillips era parceiro nosso, organizou diversas reuniões na Casa Pública junto aos correspondentes estrangeiros.
Mais do que isso. Eu senti porque me vi naquele seu lugar, metida em comunidades da Amazônia sempre rodeadas de rios e de vida, fazendo perguntas incômodas. Porque os nossos repórteres estiveram lá; porque tivemos que retirar jornalistas de locais perigosos durante o governo Bolsonaro; porque nos lembramos dos cheiros daquela floresta insuperável. Porque entendemos, de maneira profunda, na nossa memória corporal e afetiva, o que significa aquele terror de se sentir vulnerável, longe de qualquer ajuda – e o pesadelo que é aquele medo se realizar, enfim.
Agora, mais de cem dias depois do início da invasão de Israel à faixa de Gaza, me sinto incapaz de chorar pelas jornalistas que ali estão sendo assassinadas, e isso me corrói. Não as conheci, não tenho referência sobre elas; então o dado alarmante que eu leio em um relatório que recebi por email me parece um documento sem cara. Apenas no mês de dezembro, seis jornalistas palestinas foram assassinadas pelas forças israelenses em Gaza. Em novembro, quatro foram assassinadas; em outubro, três.
Quem acompanha esses dados sobre ameaças e violência contra jornalistas sabe que a morte de seis jornalistas mulheres revela uma hecatombe. Isso porque, sempre minoritárias em campo, elas (nós) sofrem inúmeras outras violências até conseguirem ser vistas como merecedoras do título da nossa profissão. E também porque, se houve seis mulheres, haverá mais, muito mais, homens jornalistas assassinados.
O levantamento é da organização Coalition for Women in Journalism e revela, mais que a brutalidade da guerra, a brutalidade da nossa percepção sobre a guerra.
Às vezes, os números podem contar uma história. Vejamos. No total, foram assassinados 76 jornalistas palestinos em Gaza em pouco mais de cem dias de guerra, segundo o Center for the Protection of Journalists (CPJ). Na Ucrânia, em um conflito que já dura dois anos, morreram 15 jornalistas no total, segundo artigo do site Nieman Lab, que, ligado à Universidade Harvard, chama esse fato de “crime de guerra”. Não se vê a mesma expressão sobre as jornalistas e os jornalistas palestinos.
Mas os números não contemplam o horror que significa essa realidade. (Uma palavra é genocídio, que condiz com a definição da Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio; mas um processo foi aberto na Corte de Haia na semana passada para deliberar se houve esse crime, aos olhos do tribunal: e as discussões marcadas pelas pressões americanas e israelenses devem se arrastar por anos.)
E a censura ou autocensura que vem dos países do Norte global se reflete na nossa imprensa, consciente ou inconscientemente, afeta nosso olhar sobre essas mulheres, que perderam não apenas a vida, perderam suas casas, perderam suas famílias.
Shima el-Gazzar era uma jornalista da rede Al-Majd, pertencente a um empresário saudita e que transmite para o mundo árabe, com escritórios em Dubai, Amã, Rabat, Bagdá, Damasco e Beirute. Morreu em 3 de dezembro, ao lado de membros de sua família, em um ataque aéreo em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.
Ola Atallah também morreu ao lado da sua família. Entretanto, ela foi alvejada em um ataque aéreo direcionado ao local para onde eles já haviam sido deslocados por força da invasão israelense, no bairro Al-Daraj, a leste da cidade de Gaza, em 9 de dezembro. Sair de sua casa, abandonar tudo, não lhe trouxe salvação.
No mesmo dia, Dua al-Cebbur morreu em um ataque aéreo, juntamente com seu marido e seus filhos, na cidade de Khan Younis, ao sul de Gaza.
Quatro dias depois, Nermin Qawwas, que trabalhava como correspondente do canal Russia Today, financiado pelo Estado russo, morreu quando uma bomba atingiu sua casa.
Naquele dia também morreram a jornalista Hanan Ayyad e seu marido, atingidos por um ataque aéreo à cidade antiga de Gaza, onde moravam. Seus dois filhos sobreviveram, órfãos.
Haneen Ali al-Qutshan morreu no domingo, 17 de dezembro, durante um ataque aéreo ao campo de refugiados de Nuseirat, onde ela estava vivendo. Outros membros da sua família também morreram.
Decidi falar das palestinas porque as palavras importam. Porque a maneira como as agências internacionais relatam o fim dessas vidas ajuda a nos afastar daquelas vidas de mulheres jornalistas. Como eu.
E porque foi uma mulher jornalista, minha amiga Pacinthe Mattar, que melhor descreveu como as palavras usadas pelo jornalismo para descrever o que ocorre na Palestina são cruéis em sua pretensa “objetividade”.
“A linguagem dos jornalistas é esterilizada e em muitos casos é abertamente censurada quando falamos da Palestina e dos palestinos”, escreveu Pacinthe. “A linguagem tem poder. Ela decide quem vive, quem morre, quais mortes são lamentáveis e quais podem definhar sob os escombros como danos colaterais.”
Pacinthe é egípcia e vive no Canadá há muitos anos, onde, nos últimos meses, tornou-se uma voz constante nos canais de TV que precisam, avidamente, de comentaristas, analistas, pessoas que falem sobre o conflito para preencher o espaço da programação – BBC, Al Jazeera, Democracy Now, CNN, Fox. No longo artigo publicado na revista The New Quarterly, ela relata como o trabalho a tem deixado exausta física e mentalmente, como ela procura usar as palavras mais exatas para detalhar o que se passa, como uma das poucas jornalistas que conseguem ler toda a cobertura em árabe, em francês e em inglês, e como é difícil ser uma das poucas pessoas que entendem a profundidade do fosso que a linguagem ascética, pretensamente objetiva, com que se tratam as vidas encurraladas ali em Gaza sob fogo de uma potência militar mundial, a maior expressão do desamparo que se pode imaginar.
Lá pela metade do texto, Pacinthe diz sentir que a linguagem é inadequada para traduzir o que ela vê em um gênero novo de vídeos a que tem assistido obcecadamente na internet, quase um novo gênero do audiovisual: “Crianças Sendo Retiradas dos Escombros”. E relata a cena que viu em um deles. A tradução é minha.
Prédios tornavam-se pilhas de pedras esmagadas diante de um céu azul, fresco. A câmera percorre os destroços e o entulho, em direção a uma cacofonia de vozes. Um grupo de homens emerge próximo de um edifício que estava de pé pouco antes de um ataque aéreo israelense esmagá-lo como uma casa de bonecas. Eles carregam, sobre uma maca improvisada, uma menina, talvez 9 ou 10 anos, coberta de pó, seu cabelo, suas calças, suas perninhas. É urgente, a maneira como esse grupo de homens leva a garota, gritando para todo mundo sair da frente.
Ela está inicialmente em silêncio, mas depois, compreendendo como está sendo levada por esses homens, pergunta, sem nenhum sobressalto, “رايحة على المقبرة؟” :
– Estou sendo levada para o cemitério?
É como um soco no estômago.
Uma menina da idade dela, imaginando que esse é o seu destino. Que ela nem sabe se está viva.
É tudo caos ao redor deles, mas um dos homens que a carrega ouve a pergunta e imediatamente a tranquiliza, vigorosamente, em voz alta, “لا يا عمي هيك عايشة هيك مشاء الله عليكي زي القمر”:
– Não, amor, você está viva, e é bonita como a lua.
Tamanha ternura, esse consolo tão paternal, tão poético e seguro, oferecido à criança que não sabe se está viva ou morta – ouvir isso em árabe, a primeira língua que eu falei na vida, quebrou algo dentro de mim.
São as mesmas palavras, ela lembra, que ouviu tantas vezes sua mãe dizer quando, adolescente, ela reclamava de alguma imperfeição imaginada: sobre uma beleza tão óbvia, tão real, tão à vista de todos.
“Eu penso como a linguagem jornalística para descrever homens e meninas palestinas raramente é assim tão bonita, tão terna, tão poética”, escreve. “Não é que apenas reduzimos e censuramos a linguagem que usamos sobre os palestinos; [hoje em dia] mal podemos falar sobre eles.”
Eu não tenho referência sobre a vida daquelas jornalistas que foram assassinadas em suas casas na Palestina – nunca estive no território, não posso imaginar o que é ter sua casa destruída de repente por um ataque aéreo e você não poder proteger nem seus pais nem seus filhos. Exceto pelo fato de que abraçaram a mesma profissão que eu, e todas as brasileiras de cantos variados que formam a maioria de repórteres da Pública, abraçaram como uma vocação.
Todas eram jornalistas que estavam ativas durante o conflito e tornaram-se algumas das poucas vozes que podem levar o horror do que está acontecendo por lá, já que as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram que “não podem garantir a segurança de jornalistas” – emitindo uma sentença de morte para todos os palestinos que teimam em exercer essa profissão.
Calar as vozes que estão transmitindo uma versão alheia à que pretende Israel é uma necessidade. E matá-los, matá-las, portanto, é parte da estratégia da guerra.
É por isso que temos que falar sobre elas.
Fonte
O post “Por que não choramos pelas jornalistas assassinadas em Gaza?” foi publicado em 06/02/2024 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública