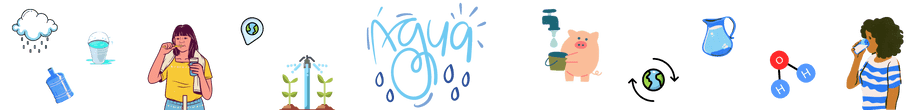Adriano Guajajara viveu os últimos 104 anos da epopeia dos Tenetehara — como os Guajajara se autodenominam —, que há milhares de anos habitam a região em torno da bacia do Pindaré, no Maranhão. “O primeiro registro do povo Tenetehara é de 1602”, diz o antropólogo Carlos Travassos, destacando a história de resistência da etnia mais populosa do Nordeste, com cerca de 20 mil habitantes em dez Terras Indígenas (TIs). “Os Tenetehara convivem há todo esse tempo com os não indígenas, passaram pelas missões dos capuchinhos, pelos deslocamentos do Serviço de Proteção ao Índio e depois da Funai, pelos projetos da mineradora Vale, por construção de estradas, invasões de fazendeiros, madeireiros, traficantes, e a grande maioria — quase todos —continua a falar a língua, a maior parte da população vive nas aldeias, mas ainda há muita luta pelo território”, explica Travassos, que trabalhou quatro anos com os Guardiões da Floresta de Araribóia, grupo indígena que há mais de dez anos atua na vigilância da TI.
Seu Adriano testemunhou essa história de violência desde a infância, quando ouvia a avó falar sobre a “guerra” de Monte Alegre, exibindo as marcas de tiros nos braços. Ela veio se refugiar com os parentes depois de uma revolta dos Tenetehara na região do que é hoje a TI Cana Brava, no município de Barra do Corda (MA). Em 1901, os indígenas se insurgiram contra as regras, os castigos e os internatos dos missionários capuchinhos, botaram fogo na missão e mataram monges e leigos. Quando veio a repressão policial, embrenharam-se nas matas, e alguns desceram até onde é a TI Araribóia, conta seu Adriano, que nasceu nesse território de 413 mil hectares onde vivem mais de 10 mil Tenetehara.

O tumui (avô), como é chamado na língua pela numerosa família, veio ao mundo em 1919, quando a floresta amazônica no estado — agora com quase 80% de sua área devastada — era mata fechada, com cedros e ipês dominando a paisagem. “Quando eu nasci, quando cresci, eu alcancei isso daqui quando era verde de lá do meu conhecimento até onde está o rio Tocantins, em Imperatriz. Muita mata, muita onça. Hoje está tudo explorado até São Luís, tudo cortado de estrada, desse jeito”, lamenta, enquanto gira o corpo miúdo de braços abertos mostrando a extensão da riqueza perdida. “Não teve governo com compaixão de nós. Deviam ter demarcado essa área quando era visão, floresta, onça, não assim com a motosserra dentro da mata. E ainda ficou de fora sete léguas da aldeia Governador para o rio Santana que era dos meus parentes. Hoje nós estamos aqui arrodeados de fazendeiros e madeireiros”, diz o tumui, que não caça mais, mas até hoje vive da roça.

Três grandes abóboras são testemunhas do seu trabalho, colocadas na porta de casa, onde ele cultiva e coleta também plantas medicinais que, garante, o curaram duas vezes de Covid-19 quando ele já estava com mais de 100 anos de idade. Sem pressa, ele vai enrolando um cigarro de maconha também plantada por ele — a erva é de consumo tradicional entre os Tenetehara, que têm autorização de cultivo. O que se tornou oportunidade para novos invasores: traficantes, que se casaram com indígenas, trazendo grandes plantações para dentro da TI (o cultivo tradicional é na roça, apenas para consumo) e ainda hoje aliciam a juventude e disseminam drogas entre as aldeias.
De acordo com Travassos, traficantes e madeireiros aumentaram a presença dentro das TIs na segunda metade da década de 1980, quando acabou o programa de indenização da Vale para compensar os Tenetehara pelos danos causados pela instalação do complexo minerário. Além de desestruturar a sociedade Tenetehara, com a injeção de R$ 13 milhões distribuídos sem muito critério durante quatro anos, o que trouxe conflitos internos que perduram até hoje, as iniciativas de geração de renda incluíam a venda de madeira que sobrava na abertura das roças, o que aos poucos se transformou em derrubada de floresta, com o aliciamento de indígenas por donos ou trabalhadores das serrarias, assim como pelos traficantes.


“A expansão madeireira que deu mais prejuízo, que abriu o maior número de ramais, foi a partir de 1984; em 1989 fica bem complicado, começam os grandes plantios de maconha feitos por gente de fora, há mais invasões, e os próprios indígenas acabam sendo criminalizados”, conta Travassos.
O desmatamento — e a criminalidade — atingiram o auge na virada para a década de 1990 e suas cicatrizes perduram. “Hoje ainda eu choro, o rio Zutiua chora, estão matando o rio. Ali era tudo cheio de madeira de lei, do ipê, cedro, eu tinha era ciúme demais, eu já era guardião da floresta como esse meu filho”, diz tumui, olhando para Olímpio, seu filho de 50 anos. “Esse tem lutado. Tem pegado a minha arte bastante. Vivo chorando por ele. Tá lutando por criaturinha desse tamanho, tá na inocência”, diz emocionado, apontando para o neto Rahony, no colo do pai.

Olímpio Guajajara, o filho de seu Adriano, é presidente da Associação Ka’aiwar dos Guardiões da Floresta de Araribóia, a figura jurídica do grupo de vigilância composto por cerca de 90 indígenas, que se tornou conhecido pela proteção da floresta amazônica remanescente onde vive o maior maior grupo de isolados Awa-Guajá já avistado pela Funai — que contou 60 indígenas dessa etnia na TI Araribóia em 2019.
Os isolados Awa preferiram se embrenhar na mata em vez de viver nas aldeias de seu povo — a TI Awa-Guajá fica ao norte da TI Araribóia, e os Awa compartilham com os Ka’apor a TI Alto Turiaçu, onde também há isolados assim como em outra TI Tenetehara, a TI Caru, que também tem um grupo de Guardiões da Floresta, como mostra o vídeo de Edivan Guajajara .
“A gente vive com nossos irmãozinhos Awa há muito tempo, sente a presença deles, vê as coisinhas deles, mas deixa eles quieto”, conta Olímpio. “Às vezes a gente tem que chamar a atenção dos mais novos, né? Uns guerreiro que não têm um facão pra fazer arco bom, pega as flecha boa deles, não sabe fazer rede confortável pra dormir, pega as redes que eles fazem de embira de tucum. Malina as coisas deles quando eles não estão, aí eles não gostam, né? Eles sabem porque, quando eles saem, os pássaros que eles criam avisam pra eles. Na hora que os pássaro vê o movimento diferente começa a dar sinal e eles já sabe que tem pessoas estranha no entorno deles. Eles são como os nossos antigos, vivem só da natureza”, diz emocionado.



Os ataques contra os guardiões
A proteção aos Awa conferiu projeção internacional aos guardiões e trouxe apoio de ONGs internacionais — a principal é a Survival International — e algum recurso da própria Funai. É assim, por exemplo, que os guardiões conseguem manter celulares com acesso à internet para trocar informações da localização de invasores, inclusive com a Polícia Federal (PF), e mantêm uma assistência jurídica comandada pela advogada Lucimar Carvalho — há indígenas e até um antropólogo investigados pela Polícia Civil por supostamente terem participado da apreensão de veículos e equipamentos de madeireiros, que é a forma de que eles dispõem de impedir a atividade ilegal dos invasores.
A associação atua também na denúncia de crimes ambientais às autoridades e no acompanhamento dos assassinatos que têm os guardiões e outras lideranças como vítimas, muitas vezes em parceria com o Conselho Indígena Missionário (Cimi), que contabilizou 48 mortes violentas de Tenetehara nos últimos dez anos. Seis guardiões e seis lideranças foram assassinados de 2016 para cá, atraindo a atenção de organizações internacionais de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que em dezembro de 2019 se manifestou pedindo a investigação do assassinato de dois caciques — Raimundo Benício Guajajara e Firmino Praxedes Guajajara, da TI Cana Brava, baleados por tiros desferidos de um carro na BR-226 quando voltavam de moto de uma cidade próxima.
Os crimes contra os caciques ocorreram pouco mais de um mês depois da morte do guardião Paulino Guajajara, coberta pela imprensa (inclusive pela Agência Pública , que foi ao território) e com repercussão internacional. A manifestação da CIDH se deu durante a passagem pela Europa de uma comitiva liderada pela então presidente da Articulação dos Povos Indígenas (Apib) e atual ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que é Tenetehara da TI Araribóia por parte de mãe, em campanha contra a violência após o assassinato de Paulino. Também houve reação das autoridades do estado: três dias depois do assassinato de Paulino, em 1o de novembro de 2019, os familiares de Laércio, guardião que sobreviveu ao mesmo ataque que matou o colega, e de dois líderes dos guardiões — Olímpio e Auro Guajajara — foram colocados sob proteção policial pelo governo do Maranhão, que também criou uma força-tarefa para combater a violência contra os indígenas no estado.
Até hoje Olímpio está no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos do Maranhão, mas não se sente seguro. “Eu não confio aqui, entendeu? Nem todo karai [branco] encosta aqui. Só quem eu conheço pode entrar”, diz o guardião.
De acordo com a Associação Ka’a Iwar, dos seis guardiões assassinados entre 2016 e 2022, apenas o caso de Paulino Guajajara se tornou ação penal, o que pode levar à punição dos criminosos. Há ainda um assassinato de guardião com inquérito em andamento na Polícia Civil do Maranhão — o de Janildo Guajajara, morto com um tiro nas costas, em 3 de setembro de 2022, quando saía de uma festa em Amarante. Um morador de uma chácara vizinha ao local onde a vítima se hospedava foi preso, segundo as informações da delegacia de Amarante à imprensa local, mas o Instituto Médico Legal da cidade de Imperatriz demorou mais de seis meses para fazer a exumação do corpo e confirmar que os projéteis saíram da arma do suspeito. A associação ainda espera o resultado da perícia.
Além de acompanhar as investigações sobre o assassinato de Janildo, a advogada Lucimar, 48 anos, filha de uma quebradeira de coco da Baixada Maranhense e defensora de direitos humanos desde muito jovem, atua como assistente da acusação em conjunto com o Cimi, do qual foi advogada, nos casos de Paulino Guajajara e de Tomé Guajajara — liderança assassinada durante a invasão de madeireiros de Buriticupu à aldeia em outubro de 2007. Embora todos conhecessem a identidade dos assassinos, que mataram Tomé, feriram sua mulher e outro indígena na frente de outras pessoas, o processo ficou parado entre 2014 e 2022 porque a Funai se recusava a apresentar as testemunhas indígenas — o que só aconteceu depois que Lucimar e duas advogadas do Cimi assumiram a assistência da acusação e ofereceram apoio às testemunhas. Em fevereiro de 2023, finalmente esses indígenas foram ouvidos e, em março, os réus foram encaminhados para julgamento no Tribunal de Júri, o que deve acontecer depois de julgadas as apelações da defesa.
Além dos casos de Paulino e Tomé, há mais um processo de assassinato de liderança que pode levar a uma condenação: o do cacique Zezico Guajajara, morto a tiros em 31 de março de 2020, que está em andamento na Justiça estadual. Nos três casos, ocorridos dentro da TI Araribóia, os réus foram pronunciados pelo juiz e podem ser julgados no Tribunal de Júri — os processos estão em fase de julgamento de recursos da defesa. Se forem condenados, pela primeira vez, crimes contra lideranças Tenetehara serão punidos.
“Nossa grande esperança é que pelo menos nos casos que estão prontos para ir para júri, o de Paulino, Tomé e Zezico, se faça justiça. Seria um marco muito importante nessa impunidade sem fim”, diz Gilderlan Rodrigues, o Gil, coordenador do Cimi no Maranhão. “O perfil das pessoas que continuam invadindo o território e ameaçando a liderança é o mesmo há décadas, até porque via de regra os assassinatos ficam impunes. Não se investigou porque a característica do crime não dava uma margem pra se pensar que era um assassinato por uma luta territorial. Mata a liderança, mas dizem ‘ah não, não foi pela defesa do território, ele foi atropelado, foi briga de bar’. Mas era uma liderança que fazia a luta pelo território”, explica Gil, que desde 2005 trabalha com os Tenetehara.
Lucimar conta que nem ela nem os advogados do Cimi conseguiram obter informações de inquérito sobre as outras quatro mortes de guardiões da Araribóia — duas delas consideradas acidentais pela polícia. Foram três vítimas em 2016, depois de um incêndio gigantesco, iniciado no ano anterior, que consumiu mais de 50% da TI Araribóia — combatido principalmente por brigadas com participação de indígenas e, segundo eles, provocado por madeireiros. “Além de matar, eles põem fogo no território, queima roça, casa, a floresta”, diz Olímpio. “A gente teve aquele grande incêndio em 2015, três guardiões mortos em 2016, e depois um grande incêndio em 2019, o ano que morreu muita gente e ainda mataram o Paulino.”
No dia 22 de abril de 2016, o corpo do guardião Assis Guajajara, 43 anos, foi encontrado com marcas de pauladas na região do Canudal, TI Araribóia; já Candide Karaky Guajajara, 22 anos, foi atropelado e morto em sua moto em 28 de julho em Amarante — testemunhas indígenas dizem que o caminhão estava carregado de toras de madeira e o motorista se desviou para atropelar propositalmente Candide; sobre Alfonso Guajajara, que teria sido morto a tiros em Arame no mesmo ano, não se sabe nem a data exata do crime.
Também no município de Arame, em 11 de agosto de 2018, o corpo do guardião Jorge Guajajara, 56 anos, apareceu no rio Zutiua. Para a polícia, um afogamento natural; para os indígenas, um assassinato a ser investigado, como relembra Olímpio. “O Jorginho era guardião e liderança na aldeia Cocalinho, e os relatos que ouvimos é que ele estava sendo caçado há tempo por pistoleiros de Arame”, diz Olímpio. “A polícia não investigou, não temos como saber. Você vê como funciona a perícia aqui, às vezes, o delegado até pede, mas não vem”, completa Lucimar.
O município de Arame, fundado em 1988, apogeu da exploração ilegal de madeira no território indígena, é o mais perigoso para os indígenas da região — das 45 mortes por agressão em Arame entre 2015 e 2020, segundo o DataSus, 11 tiveram indígenas como vítimas (quase um quarto), embora eles representem pouco mais de 0,6% da população de 32 mil habitantes do município.
Durante a estada da Pública na TI Araribóia, a reportagem viajou a Arame por dentro da terra indígena e passou uma noite na casa do jovem guardião Marçal Guajajara, que mora na aldeia Zutiua, a mais próxima da cidade. Marçal disse, porém, que só vai a Arame quando é inevitável e fica o menor tempo possível por ali. “Não sei por que os brancos não gostam da gente, talvez por causa da nossa terra. Antes eu gostava de ir lá passear quando ia resolver um problema ou comprar alguma coisa. Mas somos ameaçados em todo lugar”, relata.
O rio Zutiua, pelo qual seu Adriano chora, corta a aldeia de Marçal, a mesma em que vivia e morreu Zezico Guajajara. Hoje ele recebe esgoto e até restos do matadouro municipal de Arame. Recentemente a advogada da associação dos guardiões documentou e denunciou à Justiça e à Funai a construção ilegal de uma estrada dentro da TI Araribóia, como mostra o vídeo abaixo.
Impunidade
A distinção entre crimes comuns e aqueles motivados pela violação dos direitos indígenas é considerada importante pelo Cimi e pelas lideranças Tenetehara por dois motivos: em primeiro lugar, pelo reconhecimento do Estado de que o motor da violência contra os indígenas é a invasão de madeireiros e grileiros, que derrubam árvores, incendeiam o território e ameaçam, atropelam e matam os indígenas dentro das aldeias e nas cidades no entorno das TIs. Também há uma razão prática: se os assassinatos têm conexão com os direitos garantidos pelo artigo 231 da Constituição, que inclui a inviolabilidade das TIs, eles são investigados pela PF, teoricamente mais isenta do que as delegacias de polícia das cidadezinhas comandadas pelos mesmos interesses nos limites das TIs, e que raramente chegam a uma condenação nos crimes contra os indígenas — a não ser quando os réus também são indígenas. “Quando tem suspeito preso, pode apostar — ele é indígena”, diz Gil, o coordenador do Cimi. Só em dois dos cinco casos ocorridos em 2023, por exemplo, houve prisão de suspeitos; em ambos, os acusados eram indígenas.
O único processo penal de assassinato de liderança que não foi arquivado em fase de inquérito e seguiu na Justiça estadual é o de Zezico Guajajara, professor, cacique e coordenador da Cocalitia (Comissão dos Caciques e de Lideranças Indígenas da Terra Indígena Araribóia), instância máxima de decisões da TI. O processo aguarda a decisão do juiz sobre os recursos da defesa para que os réus por homicídio duplamente qualificado sejam julgados pelo Tribunal de Júri. Os dois acusados são indígenas.
Embora tenham uma clara relação com a exploração ilegal do território — no caso, também pelo agronegócio —, as ameaças de morte denunciadas por Zezico, antes do assassinato, em 31 de março de 2020, foram ignoradas pela Polícia Civil, que considerou o caso um conflito interno, como explica o advogado Antônio Pedrosa, assistente da acusação no processo de Zezico e presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Maranhão. “Por muito tempo o conflito foi desmerecido, menosprezado porque se passava a informação de que se tratava de uma disputa interna sem maiores pretensões de alcançar um grau máximo de violência. Depois que a violência explode, é que se começa a entender que essa disputa interna pelo cacicado se devia a uma influência externa de detentores do agronegócio que queriam tomar a aldeia Zutiua, que é aldeia dele”, diz Pedrosa.
“O que aconteceu ali é que havia um não indígena chamado ‘Formigão’, o apelido dele, casado com uma indígena, que tentava alcançar a liderança da aldeia pra poder implementar uma proposta de agronegócio. Ele tinha uma visão totalmente branca do sistema de produção, achava que o Zezico atrapalhava porque ele era da Cocalitia, apoiava os guardiões, não permitia a entrada de invasores”, conta o advogado. Formigão acabou se livrando do processo, mas seus familiares, Eduardo Santos Guajajara e Nilson Carneiro Guajajara, tornaram-se réus.
A Cocalitia, para a qual Zezico acabara de ser eleito, foi criada há pouco mais de dez anos e reúne as lideranças que lutam pela integridade do território. Às vezes, como mostra o caso de Zezico, isso significa combater a corrupção entre os próprios Tenetehara, associados a não indígenas, outra cicatriz da longa convivência dos indígenas com os criminosos desde a década de 1980, fruto do abandono do Estado. “Quando tem um parente mexendo com madeira, nós passa a real pra ele. Vamos de dez, quinze guerreiros, e aí fica claro, não vamos permitir. Ele se assusta, né? Às vezes a gente tem que ser mel e fel”, filosofa Olímpio.
Os guardiões reivindicaram a federalização do caso Zezico, buscando investigar os mandantes do crime, mas não conseguiram. Lucimar lembra que, mesmo no caso Paulino, a PF chegou a encerrar o inquérito com a conclusão de que era um crime comum, motivado pelo furto de uma moto pelos indígenas, contra todas as evidências do próprio inquérito. Os assistentes de acusação, entre eles as advogadas do Cimi e o defensor público da União Yuri Costa, que representa Laércio, protestaram, e o Ministério Público Federal (MPF) devolveu o inquérito para novo relatório da PF, mantendo o processo na Justiça Federal. Na decisão de 29 de março de 2022, sobre as mortes de Paulino e Marcio Gleick Moreira (que fazia parte do grupo invasor e foi morto por fogo amigo), o juiz Luiz Régis Bomfim Filho, da 1a Vara Criminal Federal do Maranhão, escreveu: “Visualizo indícios suficientes de autoria dos réus aptos a sujeitá-los ao Tribunal do Júri. A partir dos elementos probatórios até então produzidos, constata-se um clima de animosidade entre pessoas não indígenas residentes na proximidade do Bom Jesus das Selvas/MA e os indígenas Paulo Paulino Guajajara e Laércio Sousa Silva. Os referidos indígenas exerciam a função de ‘guardiões da floresta’ em proteção a Terra Indígena Araribóia, o que aparentemente causava incômodos a não indígenas da localidade”.
Em resposta a um pedido de informação via Lei de Acesso à Informação (LAI) feito pela Pública sobre as outras mortes de guardiões, a PF informou que em 2020 foi “instaurado o inquérito 2020.0124266 para apurar diversos homicídios cometidos contra indígenas da etnia Guajajara, entre os anos de 2016 e 2018”, período que engloba, além dos quatro casos sem resposta sobre os guardiões, mais cinco assassinatos relatados pelo Cimi. A PF, porém, alegou “que não fornece informações, peças e outros documentos de inquéritos policiais por meio da LAI, em razão do sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal”. A PF informou também que estão abertos os inquéritos que investigam a morte dos caciques baleados na estrada em 2019 — que motivaram a manifestação da CIDH, e o de “Doutorzinho”, funcionário da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) morto a tiros quando estava na perua funcional na aldeia Abrãao em 30 de janeiro deste ano, na TI Araribóia. A PF diz que não pode dar informações sobre as investigações, mas os indígenas também relacionam essa morte à exploração ilegal de madeira. Segundo os guardiões, “Doutorzinho”, casado com uma indígena, trazia madeireiros para o território e foi morto em um conflito entre eles. Todos os inquéritos correm em sigilo, informou a PF.
A reportagem procurou a Polícia Civil do Maranhão através da Secretaria de Segurança Pública para inquirir sobre as investigações sobre os mais de 40 homicídios sem investigação contra os Tenetehara e entrevistar o delegado geral sobre a violência na região. Depois de uma longa troca de emails com a assessoria de comunicação, que centraliza as demandas para todas as secretarias, os pedidos de dados e entrevistas ficaram sem resposta.



Na delegacia de Amarante
Na delegacia de Amarante, onde ocorreram nove assassinatos de Tenetehara nos últimos dez anos, a reportagem da Pública falou rapidamente com o delegado Gabriel Andrade, que disse ser impossível pesquisar os inquéritos em busca dos casos citados. Quando indagado se havia perseguição às lideranças por madeireiros e racismo ou hostilidade contra os indígenas na cidade, ele respondeu: “Tem indígena envolvido com tráfico, briga, e estupro a vulnerável, isso tem muito. Do resto, eu não sei”, disse, cortando a conversa.
“Essas cidades do entorno das Terras Indígenas têm uma hostilidade muito grande contra eles. São lugares pequenos, próximos, as lideranças são conhecidas, e todos sabem que há pistoleiros atuando livremente. Pelo menos nesses casos, o ideal seria sempre a PF investigar”, diz o coordenador do Cimi, que morou em Amarante de 2005 a 2009, quando, perseguido e ameaçado de morte, teve que se mudar para Imperatriz, a maior cidade da região.
Os próprios indígenas reconhecem que, além de racismo e cobiça pela madeira, há assassinatos causados pelo envolvimento de jovens com a criminalidade, por conflitos internos ou em função da desagregação social trazida pela longa convivência com os não indígenas — agravada pelo comércio de álcool dentro das TIs e nos bares do entorno, o que também traz brigas entre os indígenas e casos de violência doméstica, como disse o delegado. Ainda assim, não explicam o número de vítimas de assassinatos — entre as 48 mortes levantadas pelo Cimi, apenas três foram fruto de violência doméstica e duas comprovadamente ligadas ao envolvimento de indígenas com a criminalidade.
“Isso tem que ser visto dentro do mesmo quadro de negligência e racismo que está por trás de muitos assassinatos”, afirma a advogada Lucimar. “É só ver o número de atropelamentos [foram dez em dez anos na lista do Cimi, inclusive de crianças] em que o motorista foge e fica por isso mesmo, nem se abre inquérito”, diz.
Há crimes que parecem ter o ódio como motivação nos casos registrados pelo Cimi. Em 2017, Jaqueline Guajajara foi morta a facadas ao sair de um bar em um povoado de Arame; em 2022, Erisvan Guajajara, 15 anos, foi encontrado morto a facadas no campo de futebol de Amarante depois de uma festa, e Dorivan Guajajara, 28 anos, foi apunhalado durante o evento. Também em 2016, Genésio Guajajara foi morto com pauladas e um tiro no peito sem motivo aparente, quando estava em Amarante para receber a cesta básica.
Na lista de vítimas há até duas mortes por linchamento na mesma cidade: em 2014, um indígena de 19 anos foi apontado, sem provas, como suspeito de um crime cometido contra uma criança não indígena; foi linchado e morto a pauladas e teve o corpo incendiado em via pública na cidade. Dois anos depois, um adolescente de 16 anos, Aponyure Guajajara, foi morto a tiros também, em Amarante, acusado de ter participado da morte de um não indígena.
O racismo está na origem do descaso das autoridades responsáveis pela proteção aos indígenas, como constatou em sua dissertação de mestrado a pesquisadora Larissa Martins, antropóloga e servidora da Coordenação Regional do Maranhão (CR-MA). “Desde que comecei a trabalhar na Funai, sempre percebi a forma desconfiada com que os Tentehar (grafia original) eram tratados, tanto por alguns servidores da Funai quanto por funcionários ligados às políticas de saúde indígena […]. Os Tupi, representados principalmente pelos Tentehar, […] eram descritos como desordeiros, desorganizados politicamente e até certo ponto, malandros. A mesma imagem dos Tentehar como briguentos e desordeiros, construída pelos servidores públicos que trabalhavam mais próximos a eles, era sustentada pelos agentes públicos que atuavam indiretamente nas terras indígenas, como era o caso dos gestores das prefeituras e do governo estadual.”
Entre a população das cidades do entorno, comentários preconceituosos sobre os indígenas são fáceis de ouvir e o racismo está presente até nas escolas, como contou à Pública uma professora da rede estadual, que não quis se identificar: “Não tenho como negar: eles sofrem bullying sim, e não têm preparo para lidar com as diferenças culturais nas escolas”. Os indígenas reclamam da precariedade da educação nas aldeias, mas os que levam os filhos para estudar nas cidades, ou mesmo em povoados, como Campo Formoso, um enclave do município de Amarante entre duas TIs — a TI Governador, majoritariamente habitada pelos Gavião, e a TI Araribóia —, sofrem com o racismo que Olímpio conhece desde adolescente, quando saiu da TI em 1989, aos 14 anos, para aprender português e se alfabetizar. “
Tinha uma mulher do povoado vizinho, Campo Formoso, que queria me batizar e queria ser minha madrinha. Eu não queria, mas ela me conquistou. Aí eu fui no colégio, mas eu não sabia ler porra nenhuma, eu passei uma vergonha é muito grande lá”, lembra, rindo, sem demonstrar ressentimento pelo jeito como era tratado na escola e na casa da madrinha. “De noite, as irmãs dela diziam: ‘Vem, índio, vem deixar de ser burro’ e, quando eu errava a letra, era chalapada na mão”, diz. “Tinha palmatória ali, na escola, e até castigos piores. Já ficamos horas ajoelhados embaixo do sol, sem comer nem beber”, lembra o guardião, que além de Tenetehara fala mais duas línguas indígenas e é fluente em português.
Curiosamente, foi ali, em Campo Formoso, que nasceu Sônia Guajajara, embora sua família materna more na aldeia de Lagoa Quieta, onde a ministra também tem sua casa. À época, segundo Sônia, o povoado foi escolhido para abrigar as famílias mistas, como a dela, composta de oito irmãos, filhos de mãe indígena e pai não indígena. “A cidade foi crescendo, foram vindo tantas outras pessoas e ficou um lugar meio que indefinido porque estava dentro do território inicialmente”, contou a ministra em entrevista ao antropólogo Emerson Rubens Mesquita Almeida, em outubro de 2018. Até hoje a área de Campo Formoso é reivindicada pelos indígenas — tanto os Tenetehara quanto os Gavião têm pedidos de revisão de demarcação na Funai.
Além de abrigar a escola, Campo Formoso é sede de uma grande distribuidora de bebidas e teve sua rua principal asfaltada através de uma emenda do então deputado federal do PMDB Hildo Rocha, que hoje é secretário executivo do Ministério das Cidades. Na inauguração da obra, durante a campanha eleitoral de 2022, o vereador Netinho (Republicanos), de Amarante, discursou: “É uma obra histórica, um sonho do povoado de Campo Formoso”, disse, rodeado de não indígenas, sem referência alguma à sua filha mais ilustre.
O procurador Hilton Melo, do 3o Ofício (índios e minorias) do MPF no Maranhão, reconhece que há um contexto de violência contra os Tenetehara, sem resposta à altura do Estado. “É com a repressão e a punição dos autores que já vai encontrar um elemento, que a gente chama no direito penal de prevenção geral: saber que você vai ser responsabilizado vai colocar o freio em um outro que queira delinquir contra os indígenas”, diz o procurador.
Por iniciativa de Hilton, o MPF moveu uma ação civil pública para obrigar o Estado, e especialmente a Funai, a estabelecer uma estratégia de proteção territorial aos Tenetehara, derrotada em primeira instância, mas com recurso do MPF ao TRF-1. “Nossa esperança é que agora, com o novo governo, a nova Funai, se estabeleçam bases, com monitoramento permanente do território. Não basta o Ministério da Justiça nos responder que fez três operações por ano. Elas ficam muito longe de identificar a autoria dos crimes. Geralmente, esses conflitos, que acabam redundando em homicídios, dizem respeito à defesa do território, madeireiros, ocupação com gado, drogas, coisas que exigem a presença constante do Estado”, diz o procurador. “Mesmo que nem todo homicídio de índigena seja um crime federal, não deixa de ser atribuição nossa, do promotor de Justiça, provocar a delegacia da Polícia Civil a investigar, porque esse crime tem um impacto muito grande na comunidade e para o afastamento da violência dentro das terras indígenas”, explica.
A promessa de desintrusão

Em julho de 2020, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e seis partidos políticos ajuizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) no Supremo Tribunal Federal (STF) alegando que o poder público não estava cumprindo o dever de proteger os povos indígenas em relação à pandemia de Covid-19. Entre outras providências, em agosto de 2021, a ADPF 790 obriga a extrusão (retirada de não indígenas) de sete TIs — Araribóia, Yanomami, Munduruku, Kaiapó, Karipuna, Trincheira Bacajá e Uru Eu Wau Wau, onde invasores se tornaram vetores da expansão da pandemia.
Um mês antes, uma manifestação do MPF denunciando a negligência da assistência de saúde aos indígenas apresentou um dado da Frente de Proteção Etnoambiental Awa-Guajá, da Funai, apontando que 50% dos Tenetehara já haviam tido contato com o vírus. Àquela altura, o Maranhão havia se tornado o epicentro da pandemia entre indígenas, como constatou o projeto Rede Vida de Mapeamento da Covid entre indígenas do Maranhão, realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) entre maio e agosto de 2020.
Em 4 de janeiro de 2021, a CIDH, provocada por denúncia da Cocalitia, encaminhada pela Apib, emitiu a Medida Cautelar 754-20 recomendando que o Estado brasileiro “adote as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à integridade pessoal dos membros dos Povos Indígenas Guajajara e Awa da Terra Indígena Araribóia”. A cautelar cita também alta no desmatamento durante a pandemia — quando os guardiões tiveram que suspender as ações de fiscalização — e a violência no território, notadamente contra os seis guardiões e os assassinatos dos caciques Zezico, Raimundo e Firmino Guajajara.
Desde então, lideranças da Cocalitia e os Guardiões da Floresta de Araribóia têm participado de audiências com autoridades federais e estaduais e representantes da CIDH — a mais recente ocorreu em maio deste ano, na TI Araribóia. De acordo com Antônio Pedrosa, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Maranhão, a questão da violência e da impunidade foi novamente levantada pelos indígenas, que também reivindicam participar do plano de desintrusão da TI Araribóia — que, segundo o STF, tem de ocorrer até o fim do ano.“
Em abril, a gente esteve no Ministério dos Povos Indígenas, em Brasília, e conversamos sobre isso, porque os guardiões, que conhecem e defendem o território, têm que participar”, diz Olímpio. “Mas até agora ninguém falou com a gente. Quero saber se também vão fazer a desintrusão das áreas invadidas com apoio das prefeituras, como em Arame. E se vão ficar aqui, porque, se for pra fazer operação e ir embora, pode deixar como está”, reclama.
Há pouco mais de um mês, a PF deflagrou a Operação Araribóia Livre nos municípios de Amarante, Arame, Buriticupu e Grajaú. Foram 150 agentes públicos empregados na operação, que, segundo a PF, até agora prendeu nove pessoas entre os dias 13 e 20 de junho de 2023 por extração e/ou receptação ilegal de madeira, destruiu 177 equipamentos e explodiu 15 fornos de carvão. Foram apreendidos 1.000 m3 de madeira ilegal (o equivalente à carga de mais de 40 caminhões) e todas as serrarias e movelarias fiscalizadas operavam irregularmente e foram fechadas.
Embora as operações tenham sido noticiadas como o início do processo de desintrusão, o coordenador dessas operações, que é o Ministério dos Povos Indígenas, disse à Pública que “as operações policiais que estão ocorrendo na TI Araribóia não fazem parte da decisão da ADPF 709; são ações válidas e importantes, mas o MPI não entende como cumprimento da ADPF”.
“É claro que essas operações trazem resultados, mas são pontuais, não resolvem a questão da segurança do território e de outros fatores que estão envolvidos nessa violência, como as invasões, os incêndios, o racismo nas cidades vizinhas, inclusive das prefeituras e outros órgãos públicos, a falta de assistência de saúde, de ensino, e a impunidade dos criminosos”, diz Lucimar. “É preciso olhar para o território Tenetehara como um todo, valorizar as iniciativas dos guardiões, combater o racismo nas escolas, nas igrejas, nas delegacias, na sociedade local”, aponta a advogada. “Mais do que qualquer operação, acreditamos que a condenação dos réus dos casos Tomé, Paulino e Zezico pode ter, enfim, o efeito de romper a impunidade que alimenta os crimes contra os Guajajara”.
Fonte
O post “Por que estão matando os indígenas Guajajara” foi publicado em 17/08/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública