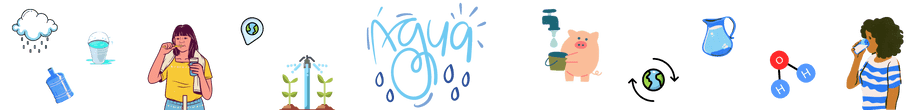Quer receber os textos desta coluna em primeira mão no seu e-mail? Assine a newsletter Xeque na Democracia, enviada toda segunda-feira, 12h. Para receber as próximas edições, inscreva-se aqui.
Para entrar na Ucrânia, na fronteira com a Polônia, a oeste, a fila nem é tanta; levaram apenas alguns minutos para que os soldados averiguassem nossos passaportes e nossos anfitriões, ligados à organização da sociedade civil Ukraine Crisis Media Center (UCMC), explicassem o que fazíamos ali.
“Journalisti, journalisti”, ouço, do banco de trás da van que leva o grupo.
Os passaportes desaparecem, mas voltam pouco depois, o rapaz de uniforme assente com a cabeça ao entregá-los de volta.
Foi por essa fronteira que saíram 3,7 milhões de ucranianos em um mês , quando a Rússia invadiu o país. Enquanto as tropas de Vladimir Putin marchavam pelo norte, na região de Chernihiv, e pelo oeste nas regiões de Donbass e Kharkiv, as filas duravam até 12 horas e os refugiados inundaram a Europa e chocaram o mundo. Hoje, após dois anos e meio de guerra, a fronteira está fechada, os braços europeus não estão mais tão abertos, e nem a Ucrânia quer perder mais seus braços. Todos os homens entre 18 e 60 anos estão proibidos de deixar o país. Há aqueles que tentam, chegam a pagar US$ 10 mil para serem metidos em algum compartimento escondido de um carro por um “coiote”.
Por isso, do lado de lá da cerca, vejo uma fila de famílias ucranianas que querem entrar na Polônia. A demora ainda é grande. As vistorias costumam ser exaustivas. Todos têm que sair do carro, levar suas bolsas a um predinho cinzento onde elas passam por uma máquina de raios X. Os carros são examinados de cima a baixo, todas as malas são abertas ao som das ordens rudes dos soldados poloneses. Os olhos das famílias têm uma expressão de cansaço; mães seguram as filhas pelas mãos, homens idosos olham para o chão. Não sabem o que vão fazer da vida.
A Ucrânia está perdendo a guerra. Desde maio, enfrenta a maior ofensiva russa desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022. Há bombardeios diários na segunda maior cidade do país, Kharkiv, mas também toda semana ataques de mísseis e drones a outras regiões, cujo objetivo declarado é destruir a rede elétrica nacional. As tropas russas já tomaram cerca de 20% de todo o território ucraniano.
“Sente-se que esse é o momento mais difícil”, diz Myroslava Iaremkiv, Myra, nossa anfitriã, do UCMC, que nos acompanhou durante toda a viagem. Myroslava morava no Canadá e decidiu retornar quando os russos se retiraram da região da capital, Kiev, em abril de 2022. “A ideia de nunca mais ver Kiev me aterrorizou. Prometi a mim que, se o Exército ucraniano recuperasse Kiev, eu voltaria pro país.”
Vamos conhecê-la. Vamos conhecer outros ucranianos, ativistas, políticos, vítimas de guerra. Por agora, Myroslava aponta quando o carro atravessa a cidadezinha do seu pai, onde passou grande parte da infância. Há pouca diferença na paisagem em relação à Polônia. Grandes descampados dão espaço a casarões de dois andares, marrom-claros, cercados de pinheiros e fronte gramada nos pequenos vilarejos de nomes impronunciáveis: Rava-Rus’ka, Shabel’nya, Luzhky, Zahir’ya. Ao lado dos trilhos de um trem, vacas deitam-se no gramado e mastigam o verde. Algumas propriedades parecem cultivadas, há homens e mulheres trabalhando no campo. Vejo igrejas ortodoxas, brancas e azuis, de torres abobadadas, talvez o único sinal de que não estamos em outro país do norte europeu. Nenhum sinal da guerra.

O “pior momento” é detalhado por Myra em uma lista. Não há boas notícias sobre o front há vários meses. Os ucranianos estão muito cansados depois de tanto tempo. Amigos, familiares e namorados passam a ser convocados para a linha de frente. O pior, para a maioria da população, está por vir. “Sabemos que vamos ter um blecaute no inverno pelos ataques contra a rede elétrica”, diz ela. De fato: ataques aéreos russos danificaram 73% das usinas termelétricas, e apenas 27% estão operando normalmente, segundo o primeiro-ministro, Denys Shmyhal.
“E o apoio internacional está minguando”, completa Myra. Criou-se até um nome para isso: Ukraine War Fatigue, ou fadiga da guerra da Ucrânia.
O objetivo da nossa viagem, um “press tour” com cinco jornalistas latino-americanos – dos diários Estadão, o La Nación e o Clarín da Argentina, além da apresentadora colombiana María Jimena Duzán e da Agência Pública – é óbvio: reverter essa desatenção internacional.
Mas aqui, na estrada em direção a Lviv, é difícil conciliar a enxurrada de notícias sobre a guerra com a tranquilidade que assistimos pela janela. O país é grande, um pouco maior que Minas Gerais, e estamos a mais de mil quilômetros de distância da linha de frente, claro. E a crise maior dos refugiados já é passado. Porém, há mais do que isso, há um esforço descomunal em manter a normalidade.
Chegamos no fim da tarde a Lviv, maior cidade do oeste do país, com cerca de 1 milhão de habitantes, e cuja população chegou a dobrar no início da guerra. Em todo lugar, há uma espécie de calmaria estranha, que poderia ser tomada como torpor, não fosse pela natureza aguerrida dos ucranianos, impossível de não surpreender o visitante.
Quando a Rússia invadiu, os governos do chamado “Ocidente” – termo que odeio, pois significa, de fato, Europa e EUA – acreditaram que a Ucrânia iria cair logo. Os Estados Unidos chegaram a oferecer ao presidente Volodymyr Zelensky um plano de evacuação. Ele negou: “Preciso de munição, e não de uma carona”. Os combates empreendidos pelos ucranianos, um Exército pouco experiente e velho – a idade média é de 43 anos –, acabaram por expulsar a empreitada russa ao norte, na região de Kiev, e retomar as áreas de Kharkiv e Kherson. O recuo das tropas russas levou o “norte global” – outro termo odioso – a se comprometer profundamente com a guerra. Só os Estados Unidos enviaram mais de US$ 100 bilhões para o governo de Zelensky.
Quando chegamos a Lviv, fazia algumas semanas que a Rússia começara uma operação ao nordeste, na região de Kharkiv, tentando retomar o espaço que perderam no primeiro ano da guerra. Todos sabiam que haveria uma operação de verão (as estações do ano são importantes em qualquer guerra russa), mas ninguém sabia onde. Em pouco mais de dez dias, Putin conseguiu ocupar mais 200 quilômetros quadrados, segundo o grupo Institute for the Study of War, financiado por empresas militares contratistas americanas.

“O tempo é a nossa vida”, disse Zelensky em entrevista ao jornal The Guardian mais ou menos na mesma época. Ele tentava convencer os governos europeus e americano a usar as armas doadas para atacar dentro do território russo, mas encontrava reticência pela ameaça de uma “escalada” da guerra por Vladimir Putin. Semanas depois, com a bênção dos EUA, Alemanha e França, a Ucrânia atacou pela primeira vez usando armas americanas dentro do território russo, pausando o avanço sobre a região de Kharkiv.
Tudo isso eu sei, porque leio avidamente todas as notícias que me caem às mãos nas semanas anteriores à viagem. Ler sobre a guerra é cair num poço sem fundo, tantos são os detalhes, os ângulos, os sites, TVs, blogueiros, centros acadêmicos que se dedicam a reportar esta que é uma fanfarra noticiosa global. Mas aqui, nas ruas de Lviv, a guerra parece um acontecimento distante.
É domingo de sol, o tempo começa a esquentar, e como em todas as cidades europeias aproveita-se cada segundo do tempo quente. Lviv tem o charme das cidades antigas da Europa e mereceu o título de Patrimônio Cultural da Unesco porque preserva ainda a arquitetura medieval, de quando a cidade era um importante entreposto comercial, além de construções barrocas. As lojas estão cheias de roupas requintadas, com bordados tipicamente ucranianos, e suvenires bobos como em qualquer lugar do mundo: camisetas que dizem “Slava Ukraini” – glória à Ucrânia – ou “I love Lviv”, cinzeiros de madeira, ímãs de geladeira. Porém turistas estrangeiros, hoje, não se encontram mais. Casais passeiam com roupas elegantes nas ruas de paralelepípedo em meio a cafés e restaurantes que têm suas vitrines cheias de vistosas tortas e bolos; grupos de amigas bebem grandes drinques coloridos nas calçadas; uma mãe filma a filha de cerca de 3 anos deliciando-se com um sorvete numa das mesas diante da doceria. Uma jovem, grávida, com um vestido de flores brancas, azuis e rosas, passeia de mãos dadas com o companheiro, de barba escura, bem cortada, camisa branca e tênis azul: uma lembrança de que também num país em guerra as mulheres seguem engravidando e caminham ao pôr do sol enquanto os passarinhos cantam alto.
María Jimena Duzán, jornalista colombiana experiente, que chegou a ser ameaçada pelo grupo de Pablo Escobar e perdeu uma irmã durante a guerra civil, foi o tempo todo uma excelente companheira de reflexões durante a viagem; vocês vão ouvir mais sobre ela. Enquanto estivemos na Ucrânia lembrava-se, o tempo todo, dos longos anos em que a guerra contra as Farc ditava o ritmo da vida em seu país. Via-se, também, ali na Ucrânia. “Durante a guerra nos vestíamos com as roupas mais elegantes, as mulheres usavam muita maquiagem, dançávamos o tempo todo”, diz. Ela me contou que, durante uma longa guerra que se assenta no cotidiano, a vida tem uma urgência tão grande que precisa ser exacerbada. “Reconheço muito esse clima aqui.”
Mal nos instalamos no hotel, um som corta o ar: é o alarme. Imagine uma sirene de ambulância, mas mais alta, perfurando os céus da cidade, seguida por uma voz metálica que grita algo incompreensível. Os alarmes de ataques aéreos são a mais constante lembrança de que a guerra existe e ameaça todo o território. E não vêm apenas lá de fora. Eles se repetem nos celulares de cada ucraniano, emanados de diversos aplicativos que mostram no desenho do mapa, em vermelho, as regiões que podem ser atingidas e qual é a arma da vez – drones “camicases”, mísseis teleguiados, voos de jatos russos…
Desta vez, o mapa todo reluz, avermelhado, e ninguém dá a menor bola.
“As pessoas viraram fatalistas”, diz Myra. “Eu não acho que você consegue evitar a morte”.
Depois, pergunto se ela ainda acredita que a Ucrânia tem como ganhar a guerra. Ela já não sabe dizer. “Eu sabia direitinho, podia dizer exatamente o que ia acontecer. Agora, desisti.”
É com o passar das horas que reparo que há sinais da guerra em toda parte. Mas preciso ajustar o olhar. Em uma praça movimentada, enquanto um grupo de jovens arrisca uma dancinha e outro fala animadamente segurando skates, sentados em um banco de madeira, um rapaz de uns 20 anos e uma jovem bonita namoram. Parecem felizes. Ele segura a mão dela carinhosamente, olhando-a nos olhos. Não tem a parte inferior das duas pernas, mas próteses negras onde antes havia tíbia, panturrilha, calcanhar, dedos e pés.
Em todos os parques, monumentos aos soldados mortos ocupam algum lugar, às vezes mais proeminentes, às vezes mais simplórios, mas sempre com os rostos perdidos adornados com velas, corações e a bandeira azul-amarela.



Mesmo a mil quilômetros da linha de frente, há alguns prédios que ainda mantêm barricada nas janelas – sacos de areia empilhados e cobertos de lona preta. Na elegante praça central, uma catedral tem todas as janelas cobertas por placas de alumínio. Talvez mais estranho, a praça, repleta de turistas ucranianos, tem ao centro grandes quadrados de madeira e lona branca acobertando as estátuas que antes adornavam o lugar. A imagem delas, bidimensional, está impressa nas lonas brancas, diante da bandeira ucraniana. E lê-se: “Você poderá apreciar essa estátua depois da nossa vitória”.

Em toda parte, as obras de arte urbana são amarradas e engaioladas, como se também fossem reféns dessa guerra.


Às duas e meia da manhã, soa novamente o alarme, desço ao lobby do hotel, onde encontro María Jimena. O recepcionista está visivelmente surpreso ao ver que duas mulheres estrangeiras querem descer ao abrigo antiaéreo. Ele não sabe o que fazer. Rapidamente aciona alguns dos seus grupos de Telegram – sem dúvida, o mais relevante veículo de comunicação desta guerra, o aplicativo é usado tanto por russos como por ucranianos. “É um drone vindo para essa região. É um camicase, pode destruir um apartamento ou uma casa”, diz, enquanto nos leva escada abaixo para o “abrigo” que, como em todos os locais onde estive, nada mais é que um quarto subterrâneo antes usado para outra coisa, como depósito ou administração.
Pouco depois, ele volta para avisar que o drone está indo para outra cidade, a cerca de 100 quilômetros de distância. “É uma arma de baixa tecnologia”, explica. “Don’t worry.”
Voltamos para dormir o resto da noite. O peso das noites maldormidas deve ser o primeiro sinal quando se entra em um país em conflito.
Hoje, a região de Lviv tem uma população ainda maior do que antes de 2022, pela chegada dos deslocados internos, que hoje são cerca de 350 mil, adicionados aos 2,5 milhões de moradores pré-guerra. No país, são 3,7 milhões os deslocados internos. Fui conhecer um pouco desta realidade na manhã seguinte, quando visitamos um abrigo temporário, construído para dar moradia a 1.400 deles, às margens de Lviv. O lugar parecia uma pilha de contêineres, até dois andares, margeando uma pequena floresta. O terreno era um pouco inóspito, o calor tórrido não encontrava descanso em nenhuma árvore. Algumas crianças brincavam em um modesto parquinho e algumas mulheres estendiam roupas em um grande varal, ao fundo.
Aqui, a guerra se apresenta por uma gritante ausência: não se veem quase homens.
Só há crianças, mulheres, idosos e idosas. Percebe-se que falta ali um pedaço. O administrador nos conta que todas as famílias têm que se registrar, o que facilita a convocação para a guerra. Os poucos homens em idade de conscrição que aqui chegaram foram mandados para o front. Eram 27. Hoje, só sobraram velhos.

“Meu namorado morreu na guerra”, nos conta a jovem Angelika, que chegou em maio de 2022, deixando uma lágrima correr.
Uma senhora de cabelos tingidos de ruivo, de nome Lybov, de camiseta rosa-choque escrito “Love”, conta que decidiu fugir quando as tropas avançaram sobre sua cidade, na região de Lugansk, hoje quase toda ocupada pelas tropas da Rússia. Fugiu porque tem de cuidar da filha especial – enquanto a mãe fala conosco, a menina está sentada num banco de madeira, diante de um magro jardim cultivado pelos moradores. “Havia bombardeio e tiroteio, era muito assustador. Aqui, tudo está calmo”, diz. Perdeu o contato com os vizinhos que fugiram e com os que ficaram. Discreta, ela interrompe a conversa quando se emociona, por alguns momentos. Yulia, nossa tradutora, coloca a mão sobre o seu ombro. Toda a sua família tornou-se retirante. “Só estou feliz que meus irmãos estão todos vivos”, encerra o papo.

Quando o alarme volta a soar, já no fim da tarde, estamos no meio do cemitério da cidade, e aqui a sensação de desamparo é enorme. Sem a proteção, sem os quartinhos subterrâneos que fazem as vezes de abrigos antiaéreos, em meio aos mortos ucranianos e mortos russos, às imponentes lápides soviéticas, negras e retilíneas, sinto-me mais mortal. O som é mais claro ainda por estarmos em um terreno às margens da cidade, um pouco elevado. Mas não é o alarme, e sim a área externa, onde a morte de fato nos saúda. Ao lado esquerdo do terreno, fora dos grandes muros brancos, existem mais de 400 lápides frescas, cada uma delas com uma bandeira da Ucrânia, tremulando com o vento frio, num festival horroroso de cores. Nossa guia, que fora contratada originalmente para nos apresentar o centro histórico, mas foi convencida a nos levar até ali, para diante de uma sepultura. “Esse é um amigo querido meu, Andrej, era guia como eu em Lviv. Como muitos dos nossos amigos.” Ela treme de ódio quando fala dos russos.
Na lápide, há uma foto. Andrej, de uns 30 anos, aparece de boina verde, casaco de inverno verde-musgo e um cachecol preto. Duas bandeiras ornam o seu túmulo, uma da Ucrânia e a outra, preta e vermelha – a bandeira do Exército Insurgente da Ucrânia, milícia nacionalista e fascista comandada por Stepan Bandera nos anos 1940 que se aliou aos nazistas contra o regime soviético durante a Segunda Guerra Mundial.
A organização de Bandera, OUN (Organização de Nacionalistas Ucranianos), ficou tristemente conhecida pelos pogroms que promoveu assim que os nazistas chegaram a Lviv. Durante três dias, execuções em praça pública, linchamentos, mulheres sendo obrigadas a marchar de joelhos, ou arrastadas, nuas, nas ruas daquela cidade que me parecia tão pacata. Estima-se que apenas em três dias a milícia matou cerca de 4 mil judeus (os registros que se encontram na internet são horrendos). Depois da guerra, Bandera colaborou com a inteligência americana e com a alemã ocidental. Foi morto por um agente da KGB em Munique, em 1959.
Em Lviv, região que mais tem enviado pessoas para o front – segundo nos contou com orgulho o diretor da região militar, Maksym Kozytskyi – as bandeiras da organização fascista têm ganhado espaço e reconhecimento à medida que a Ucrânia, e também a Rússia, reencontram seu passado sombrio para convencer seus homens a partir para o front de guerra. Depois de ter sido controlada pelos nazistas durante alguns anos, no pós-Segunda-Guerra a Ucrânia voltou a ser anexada pela União Soviética, tendo conquistado a independência apenas em 1991.
A Ucrânia, como Estado-nação, é 12 anos mais jovem do que eu.

“Não há absolutamente nada de bom em uma guerra”, comenta Jimena quando caminhamos pelo cemitério. Espanta-lhe a deferência com que os ucranianos defendem seu Exército. “A guerra corrompe tudo.” É claro que a ideia de que a tomada ilegal de território ucraniano tem o propósito de “desnazificar” ou “libertar” o país, como alega Vladimir Putin, é estapafúrdia. Mas também é verdade que, com o arrastar-se do conflito, símbolos antes considerados tabus podem ser vistos não apenas nos túmulos, mas nas lojinhas de suvenires, nos mercados populares. Acirram o nacionalismo e sentimento antirruso, criam uma renovada identidade ultranacionalista e supremacista. Ajudam a empurrar jovens para o front e a morte quase certa. Encontrei (e comprei), em uma feirinha de artesanato, ímãs de geladeira com a cara de Bandera estampada diante da bandeira rubro-negra, a mesma que homenageia a lápide do guia Andrej do lado de fora do cemitério de Lviv.
O alarme volta a soar: é o fim do período de alerta. Descemos o morro sobre o qual está o cemitério, já ao pôr do sol. Escurece. Nossa guia brinca que nunca antes levou um grupo de visitantes ao cemitério àquela hora. Brinca que podemos acordar os mortos, mas a brincadeira não tem graça.
Fonte
O post “Episódio 1 – Uma estranha calmaria” foi publicado em 11/06/2024 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública