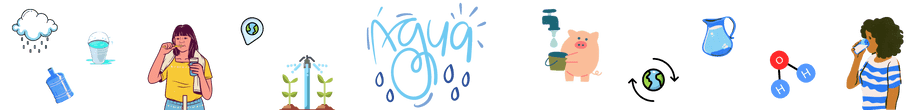Morreu ontem, aos 52 anos, a antropóloga Adriana Dias, uma das maiores pesquisadoras sobre a extrema-direita Brasil. Vai fazer uma falta tremenda.
Adriana, mestra e doutora em antropologia social pela Unicamp, esbarrou no neonazismo nas redes por acaso, em 2002, e pouco depois fez dele seu principal objeto de estudo. Como ela declarou numa das inúmeras entrevistas que deu (
esta ainda em 2018), “quando comecei a pesquisar a extrema direita no Brasil e no mundo, as pessoas não viam sentido nesse esforço, porque não acreditavam na existência de um movimento neonazista. Agora as pessoas estão muito conscientes de que o fenômeno existe. No meu mestrado em 2007, a situação já estava muito mais grave do que quando iniciei as pesquisas. E, hoje, vivemos o que considero um tsunami do movimento da direita”.
De origem humilde, Adriana era evangélica e se converteu ao judaísmo ao se deparar com os horrores do Holocausto. Recebia ameaças desde 2009, quando denunciou o plano de um ataque terrorista neonazista. Não se acostumava com o ódio: ela me contou que muitas vezes vomitava ao ler o que os supremacistas escreviam.
Mas esse mal-estar também era acentuado pelos seus muitos problemas de saúde. Ela nasceu com osteogênese, a popular “ossos de vidro”. Sofria de uma doença cardíaca grave e várias doenças raras, que a levaram a passar por 33 cirurgias, 300 fraturas, e muitas internações em UTI. Seu marido, o artista plástico Marcelo, também teve câncer, mas conseguiu se recuperar. Infelizmente, ela não. Não desta vez.
Adriana lutava pelos direitos das pessoas com deficiência. Por exemplo, ela redigiu o
Minimanual do Jornalismo Humanizado – Pessoas com Deficiência, que pode ser
baixado aqui , para ajudar os veículos de comunicação a não pisarem na bola e evitarem o capacitismo.
Acho que a primeira vez que ouvi falar nela foi em 2018, quando ela participou da audiência pública sobre ADPF 442 (descriminalização do aborto) no Supremo Tribunal Federal, e fez uma
fala brilhante sobre aborto e eugenia. Ela discursou: “eugenia é nos negar [a pessoas com deficiência] igualdade de condições e participação na vida social, inclusive por meio da reprodução; eugenia é o Estado gerir nossa vida, nos esterilizar, e decidir nossa fecundidade. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir [abortar] por qualquer razão que seja”. Foi aplaudida de pé.
Além de antropóloga, ela era também programadora, o que a ajudava a vasculhar os fóruns de ódio na Deep Web. Ela custava a acreditar no que via: uma mensagem antissemita no Twitter a cada 4 segundos, uma postagem em português contra negros, pessoas com deficiência e LGBTs a cada 8 segundos, e milhares de posts celebrando nazistas e supremacistas (número que chega a milhões quando é o aniversário ou o dia da morte do sujeito).
Antes de Bolsonaro, um neonazista, chegar ao poder, Adriana já tinha identificado 334 células neonazistas no Brasil. Esta movimentação de extrema-direita explodiu com a eleição do Coisa Ruim, e Adriana falava sempre da necessidade de desnazificar o país . Durante todo o mandato de Bolso, ela não se cansou de denunciar as muitas semelhanças entre o governo e o início do nazismo na Alemanha de 1930. Em 2021 fez uma grande descoberta: encontrou uma carta do então deputado federal Jair a um portal neonazista. A carta, de 2004, dizia “Vocês são a razão do meu mandato”. Se restava alguma dúvida da ideologia genocida do ex-presidente, depois disso ficou muito evidente que os brasileiros elegeram um nazista.
Como conta o jornalista
Matheus Pichonelli , que era também seu amigo, Adriana se indignou com a postura de Bolso durante a pandemia, dizendo que Covid era apenas uma gripezinha e que alguém com seu “histórico de atleta” não tinha o que temer. Adriana escreveu a Matheus: “Lutei muito para chegar onde cheguei, apesar dos meus problemas respiratórios e da minha doença crônica óssea, que dificulta muito a intubação respiratória. Eu tenho doutorado pela Unicamp, combato neonazismo no Brasil, lutei muito pelo direito das pessoas com deficiência, das mulheres, contra o racismo. Escrevi mais de 60 leis, entre municipais, estaduais e federais, em vertentes de direitos humanos diversos. Tudo foi conquistado com muito esforço. E está sendo dito que minha vida é eliminável”.

Infelizmente, nunca conheci Adriana pessoalmente, mas conversávamos com certa frequência por DM. Ela me recomendou (e enviou pra mim) o livro Women of the Klan, de Kathleen M. Blee, que me fez entender melhor a participação de mulheres na extrema-direita. Foi com Adriana que aprendi que a expressão “racismo reverso”, tão usada hoje por reaças que é quase um termo do senso comum, foi criada em 1974 por um membro da Ku Klux Klan, numa tentativa (bem sucedida) de tornar termos nazistas aceitáveis.
Comigo ela sempre foi de uma doçura ímpar. Preocupava-se comigo, enviava prints que colhia na Deep Web (onde nunca entrei) de ameaças a mim e a meu marido, pedia para que eu instalasse uma câmera de segurança na frente de casa. Tive a honra de poder entrevistá-la
numa live em outubro de 2021.

Adriana morreu antes de poder escrever o livro que tanto planejava, com todas as suas investigações sobre o neonazismo no Brasil. Mas seu legado permanece nas dezenas
de entrevistas que deu, nos vários textos que publicou na
Fórum e no
Think Olga,
nas aulas com que nos brindou quase até o final da vida.
Mesmo já muito doente, ela fez parte da equipe de transição no governo Lula, na área de direitos humanos (o ministro Silvio Almeida publicou uma
nota de pesar com a sua morte).
Você vai deixar saudades, amiga.