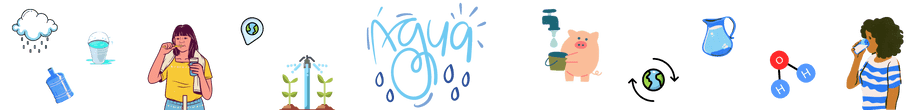Quer receber os textos desta coluna em primeira mão no seu e-mail? Assine a newsletter Brasília a quente, enviada às terças-feiras, 8h. Para receber as próximas edições por e-mail, inscreva-se aqui.
Nem o Congresso autorizado a funcionar na ditadura civil-militar (1964-1985) foi tão longe. O projeto de lei (PL) aprovado pela Câmara dos Deputados (nº 490/2007) e pelo Senado Federal (nº 2.903/2023) passa à história como o pior ataque cometido contra os direitos dos povos indígenas pelo Legislativo brasileiro nos últimos 50 ou 60 anos. O texto extrapola em muito o tema do suposto “marco temporal ” (uma tese jurídica criada em 2009 e há poucos dias finalmente enterrada pelo Supremo Tribunal Federal) ao fixar , por exemplo, a possibilidade de os indígenas perderem suas terras “em razão da alteração dos traços culturais da comunidade indígena ou de outros fatores ocasionados pelo decurso do tempo” (art. 16, parágrafo 4º).
No final dos anos 1970, a ditadura tentou fazer exatamente isso com um projeto racista chamado de “emancipação indígena”. Os militares queriam estabelecer “critérios de indianidade”, pseudocientíficos, pelos quais alguns não indígenas iriam definir quem era ou quem não era indígena. A reação da sociedade civil, que promoveu atos públicos em universidades do Rio e de São Paulo, foi tão forte que até a ditadura de Ernesto Geisel teve que recuar e mandou arquivar o projeto. No governo civil-militar de Jair Bolsonaro, a Fundação Nacional do Índio (Funai) publicou uma resolução pela qual iria “estabelecer critérios sobre a identificação de indígenas no Brasil”. Como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) disse na época, “governo racista não define indígenas”.
Ao permitir “a celebração de contratos que visem à cooperação entre indígenas e não indígenas para a realização de atividades econômicas, inclusive agrossilvipastoris” em terras indígenas (art. 26, parágrafo 2º) e também a “atuação conjunta de não indígenas no exercício da atividade”, o projeto de lei na prática institucionaliza o arrendamento, embora ao mesmo tempo jure proibi-lo. Institucionaliza porque inexistirá “exercício da atividade” sem lucro, a menos que as empresas agropecuárias tenham se tornado organizações sem fins lucrativos. Não parece ser o caso. Bastará aos caciques indígenas cooptados pelos ruralistas montarem supostas “parcerias de cooperação” a fim de abrir suas terras para os produtores de monocultura em larga escala. A partir daí, o céu é o limite.
Os parlamentares de 2023 também colocam em risco a vida de comunidades indígenas inteiras que decidiram seguir vivendo em isolamento voluntário e que estão até agora relativamente protegidas pela chamada “política de não contato” em vigor no governo federal após o fim da ditadura. O projeto de lei diz que o contato com os isolados poderá ser feito a fim de “intermediar ação estatal de utilidade pública” (art. 28). Isto é, todo tipo de séria intervenção no meio ambiente: estradas, hidrelétricas, linhas de alta tensão, pistas de pouso, pelotões militares, ferrovias.
É preciso recuar muito no tempo para encontrar um paralelo com o conteúdo desse projeto de lei. Talvez nesse infame texto escrito há 116 anos – olha o tamanho do pulo para trás – pelo médico e ornitólogo alemão Hermann von Ihering (1850-1930), ex-diretor do Museu Paulista: “Os atuais índios do Estado de São Paulo não representam um elemento de trabalho e de progresso. Como também nos outros Estados do Brasil, não se pode esperar trabalho sério e continuado dos índios civilizados e, como os Caingangs selvagens são um empecilho para a colonização das regiões do sertão que habitam, parece que não há outro meio de que se possa lançar mão, senão o seu extermínio”.
No início do século 20, os Kaingang de São Paulo, que hoje seriam considerados isolados ou de recente contato à luz dos conceitos atuais, lutaram contra a passagem de uma ferrovia pelo seu território. O PL dos senadores e deputados de 2023 está em linha com o conselho exterminador de Von Ihering: “empecilhos” ao desenvolvimento devem ser eliminados. Uma reação de fundo humanístico ao extermínio dos Kaingang, aliás, foi um dos estímulos para a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), o antecessor da Funai, em 1910, mais de um século atrás.
A aprovação do projeto de lei, que logo ganhou a alcunha de “PL do Genocídio”, cabe principalmente a dois senhores, incentivadores e fiadores do tratoraço. Ambos são brancos, riquíssimos e de direita. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, é agropecuarista e declarou R$ 5,9 milhões de patrimônio em 2022. Rodrigo Pacheco, eleito pelo DEM e hoje no PSD, presidente do Senado, declarou R$ 22,9 milhões de patrimônio em 2022, incluindo casas, terrenos e um avião.
Em um discurso no Senado pelo qual tentou explicar o motivo de a Casa ter afrontado o Supremo Tribunal Federal (STF) ao aprovar o PL, Pacheco disse que “o plenário [do Senado] afirma o que é a vontade da Casa legislativa e, consequentemente, a vontade da sociedade brasileira, porque nós fomos votados pelos cidadãos brasileiros para representá-los”. Qual vontade, cara-pálida? Em 2019, uma pesquisa Datafolha demonstrou que 93% dos brasileiros são “a favor de políticas públicas que reforcem a proteção das florestas onde vivem etnias indígenas isoladas”.
Em 2020, o Datafolha detectou que 49% dos entrevistados consideravam que os povos indígenas “fazem um bom ou ótimo trabalho para manter a floresta em pé”. Apontou ainda que, para 46% dos entrevistados, a gestão de Bolsonaro no combate ao desmatamento na Amazônia era ruim ou péssima.
O PL aprovado pelo Congresso contém todos os principais pontos da política antiambiental e anti-indígena de Jair Bolsonaro. A “vontade da sociedade” alegada pelo presidente do Senado certamente se encontra naquela parcela da população que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022. Mas ele foi derrotado no pleito. O projeto bolsonarista de destruição da Amazônia e das terras indígenas, portanto, foi rejeitado por mais da metade da população brasileira. Quando fala em representação política, Pacheco recorta o quadro que lhe convém.
Pacheco diz agir em nome da vontade dos brasileiros, mas impediu a escuta dos próprios povos indígenas, os mais atingidos pelo PL, o que contraria a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), tornada lei no Brasil ainda nos anos 2000. Ela prevê, em seu artigo 6º, que os povos indígenas devem ser consultados “cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente”.
A tramitação do PL foi a toque de caixa. No Senado, foi discutido na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e não nas comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos. Em discursos na Câmara quando era deputada federal, de 2019 a 2022, a atual presidente da Funai, Joênia Wapichana, lembrou que o “PL do Genocídio” tramitava na Câmara “de forma acelerada aqui e sem a participação dos povos indígenas, que em nenhum momento tiveram oportunidade de se manifestar”.
“O PL 490/07 e esse PL 191/20, que são colocados como prioridade do desgoverno Bolsonaro, vêm justamente afrontar a Constituição mais uma vez. Será que não se cansa de ferir tanto os direitos humanos daqueles que estão mais vulneráveis em termos de exercício de direito; que não têm representação política nesta Casa – têm somente uma deputada indígena que fala, mas que todo mundo finge que não ouve ou fica cego diante de suas propostas? Que país é esse que quer ficar rico às custas da vida dos indígenas?!”, indagou Joênia na tribuna da Câmara em 2022. Ninguém respondeu.
Joênia agora preside a Funai, renomeada Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Pela primeira vez foi criado um Ministério dos Povos Indígenas, sob comando da líder indígena Sonia Guajajara. À frente da pasta do Meio Ambiente está um ícone ambientalista, Marina Silva. Uma tríade importante, que sinaliza um governo comprometido com a defesa do meio ambiente e dos indígenas. Também foi bonito ver o cacique Kayapó Raoni subir a rampa do Palácio do Planalto a convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O governo deflagrou e lidera um processo de recuperação do terreno perdido na Amazônia para grileiros e desmatadores. Desencadeou várias operações de expulsão de invasores, pelo menos três em grande escala nas terras Yanomami, Alto Rio Guamá e Apyterewa.
Tudo isso é fato e não deve ser menosprezado. Mas o “PL do Genocídio” leva o governo Lula 3 a um daqueles momentos definidores de uma gestão. Se não agir, ainda que na difícil conjuntura política marcada pela ascensão da extrema direita ao lado do Centrão, com o qual o governo precisa lidar em nome da governabilidade, será lembrado pela omissão e, por isso, cobrado. Calado, consentirá.
Na última sexta-feira (28), a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, formada por 40 organizações da sociedade civil e coordenada pela deputada indígena Célia Xakriabá (Psol-MG), se reuniu numa sala na Câmara dos Deputados com entidades indígenas, indigenistas e ambientalistas com a tarefa de definir os caminhos da reação. Um abaixo-assinado passa das 700 mil assinaturas e pretende chegar a 1 milhão de apoiadores. Notas de repúdio partiram de várias entidades.
Lula pode vetar integral ou parcialmente o projeto. Segundo a Constituição, tem 15 dias úteis para a decisão, que ainda não é conhecida. O discurso unificado entre os integrantes da frente é que tudo começa por uma decisão de Lula de vetar o projeto na íntegra. Depois haveria a batalha para tentar enterrá-lo em votação nas Casas legislativas – o veto presidencial pode ser derrubado em novas votações. Em caso de derrota no Congresso, as entidades poderão questionar o PL no STF, provavelmente por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Será imprescindível, dizem as entidades, que figuras proeminentes do governo, como o próprio presidente, entrem de corpo e alma em todo esse processo político e jurídico.
O risco do veto parcial é que os parlamentares poderiam tornar lei, com o apoio tácito de Lula, alguns trechos do projeto. O texto, porém, é cheio de violências inconstitucionais, no entender da frente. Vetar apenas partes significaria o endosso presidencial às outras partes.
Mas já preocupou ver o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), rapidamente dizer que o veto parcial seria o melhor caminho. Novamente um político não indígena tomando uma posição sem antes ouvir a opinião dos indígenas. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem Partido – AP), disse preferir o veto total. Dessa contradição básica se extrai a noção de que o governo não está coeso sobre o tema, mais uma má notícia para povos indígenas e o meio ambiente.
Fonte
O post “A reação da sociedade e de parlamentares ao projeto anti-indígena aprovado pelo Congresso” foi publicado em 04/10/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública