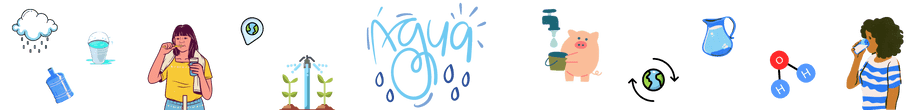A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP), principal espaço global sobre política climática e desenvolvimento sustentável, está acontecendo pela primeira vez no Brasil — e justamente na Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Mas e daí? Afinal, qual poderá ser o maior legado da COP30 em Belém?
Cada edição de uma COP representa não apenas um marco diplomático, econômico e ambiental, mas também uma arena de disputas políticas, protestos e participação de movimentos sociais e organizações da sociedade civil de todas as partes do planeta. A realização da COP no Brasil, especialmente na Amazônia, carrega uma simbologia sem precedentes. Diante de um cenário de crise climática e desigualdades estruturais, o verdadeiro ganho para o país vai muito além das negociações formais: trata-se de afirmar sua posição geopolítica, de avançar na reforma dos organismos multilaterais e demonstrar caminhos para um novo modelo de justiça climática e social a partir do Sul Global — justamente no epicentro das contradições do clima, onde se sofre as consequências de maneira severa, mas também onde estão muitas das soluções para o futuro da humanidade: a Amazônia.

Nos últimos anos, o Brasil tem se reposicionado no cenário internacional após um período de negacionismo e isolamento. Até pouco tempo atrás, o país parecia mergulhado num atraso profundo, minimizando a gravidade da crise climática e desmontando políticas ambientais históricas. A imagem internacional se deteriorou, especialmente diante do aumento do desmatamento na Amazônia, dos incêndios fora de controle e do desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. Essa fase, marcada pelo descrédito e pela desconfiança, afastou o Brasil de seu papel tradicional de protagonista nas negociações ambientais. Hoje, o simples fato de sediar uma COP simboliza um retorno diplomático — o período em que o “Brasil voltou” foi iniciado com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro de 2022, principal articulador e idealizador da campanha vitoriosa para sediar esta edição da conferência do clima.
Desde a Rio-92, o Brasil tem sido um ator-chave nas conferências climáticas, articulando pontes entre o Norte e o Sul globais. Por não ser um dos principais responsáveis históricos pelas emissões de gases de efeito estufa, o país possui uma vantagem competitiva: pode reivindicar espaço de liderança sem carregar o peso das grandes potências historicamente poluidoras e liderar um ciclo de desenvolvimento sustentado e inclusivo da economia. Esse diferencial confere ao Brasil autoridade para cobrar compromissos reais de mitigação, adaptação através do financiamento climático dos países ricos, ao mesmo tempo em que busca consolidar sua própria transição econômica diante da emergência climática — processo que o atual governo Lula define como transição ecológica da economia.
No entanto, a liderança climática não se sustenta apenas em discursos ou gestos diplomáticos. É necessário traduzir o protagonismo em políticas concretas, coerentes com o discurso internacional. A iniciativa do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (na sigla em inglês, Tropical Forest Forever Fund – TFFF) foi apresentada como um passo pragmático nessa direção. A proposta pretende valorizar o chamado “ativo florestal”, capaz de gerar uma nova moeda de troca – o carbono equivalente – e incorporar critérios de justiça climática, beneficiando parcialmente quem mais preserva, os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Mas, esse fundo vem recebendo críticas de diversos movimentos sociais. De fato, o TFFF não atende a urgência e nem constrói uma estratégia ampla para adiar o fim do mundo. Permanecem lacunas importantes, pois biomas não reconhecidos como florestais, como o Cerrado — conhecido como a savana brasileira, hot spot de biodiversidade e caixa d’água do Brasil —, ficará de fora apesar de sua relevância ecológica e do ritmo acelerado de sua devastação. Além disso, embora fundos como o TFFF possam ajudar a canalizar recursos para políticas ambientais, não enfrentam nossas desigualdades, tampouco se debruçam sobre a necessária transformação dos sistemas alimentares capturados pelo agronegócio, setor responsável pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa, conjuntamente com o processo da mudança no uso da terra.
O verdadeiro desafio, portanto, é fazer com que o protagonismo internacional se traduza em justiça climática interna. O Brasil é um país profundamente desigual, com enorme concentração fundiária e milhões de pessoas vivendo em periferias urbanas vulneráveis, onde enchentes, deslizamentos, tornados e ondas de calor se tornam cada vez mais frequentes. A mudança do clima tende a ampliar e esses desastres e por sua vez essas disparidades, fortemente marcadas por recortes de classe, gênero e raça — o que torna o conceito de racismo ambiental cada vez mais pertinente. As populações mais pobres, rurais, periféricas e indígenas são as mais vulneráveis aos impactos da seca, das enchentes e da perda de biodiversidade, da qual dependem para sobreviver e preservar suas culturas.
Adaptar o país à nova realidade climática requer uma distribuição mais justa dos recursos. Nesse sentido, medidas como a isenção de impostos aos mais pobres e a taxação dos mais ricos, conquistas anunciadas na véspera da COP, apresenta-se como medidas estruturais que num país como o nosso, impactarão qualquer dimensão da justiça, inclusive a ambiental.
De toda forma a escolha da Amazônia como sede da COP é carregada de significado. A região é, ao mesmo tempo, símbolo e campo de batalha da crise climática. Nela se concentram talvez, os maiores desafios de conservação, os grandes embates com setores estratégicos do capital, como o energético e o agronegócio, mas também as maiores promessas de um novo modelo de desenvolvimento.
O post “Afinal, qual o verdadeiro ganho com a COP na Amazônia?” foi publicado em 15/11/2025 e pode ser visto diretamente na fonte Futuro com floresta