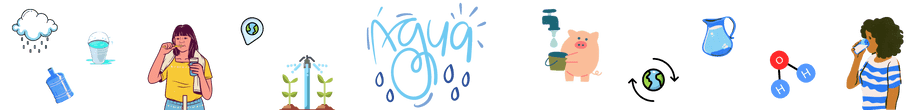Quer receber os textos desta coluna em primeira mão no seu e-mail? Assine a newsletter Brasília a quente, enviada às terças-feiras, 8h. Para receber as próximas edições por e-mail, inscreva-se aqui .
Foi uma “caravana da morte” e uma “caçada humana”, nas palavras do procurador da República Roberto Cavalcanti Batista em 1989. Uma execução em plena luz do dia, à vista de todos em uma rua. Várias testemunhas e até alguns dos acusados detalharam o crime. Trinta e seis anos depois, nenhum dos seis acusados pagou pelo assassinato do cacique indígena Yaminer Suruí e o processo continua sem julgamento final. Dois dos acusados já morreram e a pena de um dos crimes, a ocultação do cadáver, já prescreveu.
Dois dos réus foram condenados pelo Tribunal do Júri em 2017 a 18 anos de reclusão, mas até agora não houve julgamento sobre um recurso ajuizado pela defesa no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, em Brasília. A Defensoria Pública da União (DPU) agora pede à Justiça Federal de Mato Grosso, por meio de uma ação civil pública, que a União seja condenada pela demora na apuração e no julgamento do processo penal.
“A demora irrazoável no andamento processual é evidente […], até o presente momento não houve trânsito em julgado da decisão condenatória. Essa morosidade possibilitou a prescrição punitiva de diversos crimes, bem como a revogação da prisão preventiva em diversos momentos, mesmo quando os acusados restaram foragidos por muitos anos”, escreveu, em petição, o defensor público da União regional de direitos humanos em Cuiabá (MT) Renan Sotto Mayor. Ele pede indenização à família da vítima e ao povo Suruí.
A longa história de impunidade começa na manhã de 16 de outubro de 1988, quando um grupo de madeireiros, posseiros e garimpeiros armados saiu, disposto a matar, em uma caminhonete C-10 com carroceria e em um jipe do município de Espigão d’Oeste (RO).
Primeiro invadiram, a 17 km dali, a Reserva Indígena Zoró, em Aripuanã (MT). Quando viram alguns artefatos indígenas perto da casa de um posseiro, já saíram do carro atirando. Miraram principalmente o Cinta Larga Roberto Carlos Oita Mina, que reagiu e conseguiu ferir levemente um dos agressores. Os indígenas conseguiram fugir, correndo para dentro da mata.
Oito quilômetros adiante, o grupo encontrou outro grupo indígena, contra o qual novamente atirou. Mais uma vez os indígenas conseguiram se esconder na floresta.
Os agressores seguiram até a localidade chamada Aristides, onde encontraram três indígenas e um não indígena, que era balseiro no rio Roosevelt, “caminhando tranquila e pacificamente” em uma rua perto da escola da comunidade. O jipe Toyota ultrapassou o grupo e parou. Ao perceberem o perigo, todos saíram correndo, mas um ficou para trás.
O cacique Yaminer Suruí tinha cerca de 70 anos de idade e não conseguiu fugir a tempo. Desarmado, foi cercado e impiedosamente executado pelas costas com tiros na cabeça, segundo uma testemunha.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Yaminer “teve sua vida ceifada ‘simbolizando’ o nítido propósito que o grupo perseguia de dizimar os índios que fossem encontrados à sua frente”.
Depois de tentar matar outros indígenas, sem sucesso, o grupo retornou ao corpo de Yaminer, embrulhou-o numa rede e o levou, na carroceria da caminhonete, até uma mata na localidade de Paraíso (RO). Ali o carbonizaram para dificultar a identificação. Dias depois, a Polícia Federal (PF) encontrou os restos mortais queimados de Yaminer reduzidos “a 20 cm de massa física”.
De acordo com o inquérito aberto pela PF, o assassinato de Yaminer foi uma vingança no contexto de um conflito vivido na região depois que, em meados de 1984, “diversos posseiros” se instalaram na terra indígena. Dois anos depois, a Funai, com apoio da PF, instalou uma barreira para tentar impedir a entrada de novos invasores e bloquear a saída de madeira.
Mas a invasão continuou. No início de outubro de 1988, os indígenas aprisionaram alguns invasores, mas os liberaram sob a advertência de que deixassem de imediato a terra indígena. Segundo os posseiros, alguns deles foram agredidos. Dias depois, deflagraram a retaliação.
A PF entrou no caso após muita pressão e a ocupação, pelos indígenas, do escritório da Funai em Pimenta Bueno (RO). Yaminer já estava desaparecido havia dez dias quando seus restos mortais foram encontrados.
Em seguida, o posseiro José Antônio da Silva, o “Crente”, procurou um policial no hospital de Boa Vista do Pacarana (RO) para contar o que sabia. Ele argumentou que só participou da vingança porque foi coagido. Em virtude de ameaças que passou a receber dos madeireiros, ele e sua família tiveram que ser transferidos pela polícia para Espigão d’Oeste.
Silva narrou que cerca de 20 homens, todos armados, participaram da vingança. Mas, ao final da investigação, a PF conseguiu apontar com certeza apenas seis pessoas, que foram denunciadas em seguida pelo MPF: José Antônio da Silva, Sadi Francisco Tremea, Sebastião Gonçalves Bastos, Antônio Lopes da Silva, Cloves Alves de Almeida e Elci Ferreira Radis.
Em seu interrogatório, o madeireiro Tremea, um gaúcho de Aratiba nascido em dezembro de 1961 (teria hoje, portanto 62 anos), disse que participou da retaliação e que estava na cena quando três homens não indígenas mataram a tiros o cacique Suruí. Esse trio, citado em outros depoimentos, nunca foi localizado pela polícia. Sobre eles recaiu a maior parte das acusações que os próprios réus começaram a fazer, terceirizando a culpa para quem não foi encontrado pela polícia ou pelo Judiciário.
O mais citado tinha o apelido de “João Moleque”. A PF localizou a sua companheira na época. Ela disse que o homem se chamava João Alves Pereira e que havia nascido em 6 de março de 1952, “possivelmente no estado da Bahia”, filho de Aurelino Pereira da Silva e Coleta Silva de Jesus. Segundo a mulher, “Moleque” era garimpeiro e tinha “recebido” cerca de 50 alqueires dentro da terra indígena dos Zorós, onde garimpava. Depois do assassinato de Yaminer, disse a mulher, ele “simplesmente desapareceu”.
Um dos envolvidos no crime disse que “Moleque” era um dos mais ativos na vingança e chegou a ameaçar os posseiros que hesitavam em participar da viagem. Em interrogatório, Tremea disse que “Moleque” foi quem primeiro atirou no ancião indígena.
“‘Pereirinha’ e ‘João Moleque’ são garimpeiros e por esta razão são praticamente nômades e possivelmente, após o assassinato do índio, devem ter se mudado para um dos inúmeros garimpos da região”, apontou a PF em relatório. O terceiro citado, “Toninho”, seria um ex-policial militar “que foi assassinado a tiros em Cacoal [RO] no dia 9 de novembro de 1988”.
Jamais descobriu-se o paradeiro e a correta identidade desses três suspeitos de terem participado do assassinato de Yaminer. Nunca foram indiciados pela polícia nem processados e julgados. Sumiram como fantasmas para o descrédito das autoridades.
Três dos acusados chegaram a ser presos preventivamente na época do crime, mas logo foram soltos pela Justiça para que respondessem ao processo em liberdade. Antônio Silva e Sadi Tremea ficaram presos em Cuiabá (MT) por apenas três meses e três dias, de fevereiro a junho de 1989.
Elci Radis ficou preso por alguns meses em 2006 no Espírito Santo, mas também foi solto por ordem judicial para que aguardasse o julgamento em liberdade.
Em 2017, quando começou o julgamento, dos seis originalmente acusados, dois já haviam morrido: José Silva (em outubro de 2002) e Cloves Almeida (em 2001, após “acidente por arma de fogo”).
Acusações por crimes laterais contra outros dois réus (Sebastião Bastos e Radis) foram desmembradas. Restaram, portanto, dois réus pelo homicídio: Antonio Silva e Sadi Tremea. Em 2017, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime para condenar a dupla por homicídio doloso qualificado por motivo fútil.
O juiz federal substituto Francisco Antonio de Moura Júnior fixou uma pena de 18 anos e 9 meses de reclusão. A defesa dos réus recorreu da decisão do júri, e até hoje a sentença não foi cumprida. Silva e Tremea só ficaram na cadeia apenas durante aqueles três meses em 1989.
A morosidade inacreditável – até para os padrões brasileiros – desse processo foi sumarizada pelo defensor da DPU Sotto Mayor: o crime ocorreu em 16 de outubro de 1988, o inquérito da polícia acabou em março de 1989 e a denúncia do MPF foi oferecida naquele mesmo mês e ano.
Contudo, a sentença de pronúncia, isto é, quando um juiz aceita a denúncia e envia o processo para um Tribunal do Júri para julgamento dos réus, só ocorreu em novembro de 1997 (17 anos depois do crime). Passaram-se então nada menos que 20 anos até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse tempo todo, o Judiciário e a PF alegaram uma enorme dificuldade para localizar o paradeiro dos réus e das testemunhas.
A defesa dos réus apresentou recurso em 10 de julho de 2017, e desde então a causa aguarda uma definição no TRF da 1ª Região (primeiro sob a relatoria do desembargador Néviton Guedes, agora com o desembargador César Jatahy).
Um dos filhos de Yaminer, João Suruí, já havia perdido sua mãe ainda nos anos 1970 por doenças trazidas pelo contato feito pela Funai durante a ditadura militar.
Ele disse em depoimento ao defensor público Sotto Mayor: “[Meu] pai foi assassinado defendendo as florestas, o lar do povo Paiter Suruí. Não queria guerra, mas defender a sobrevivência dos filhos e de todo o povo Paiter Suruí. […] Enquanto viver, a dor não passa, porque não foi feita nenhuma justiça nem puniu os assassinos e nem o Estado Brasileiro fez qualquer indenização para ajudar o povo pelo menos a aplacar um pouco da dor”.
No último dia 22, a Advocacia-Geral da União (AGU) contestou a ação da DPU, que tramita na Justiça Federal ainda sem decisão judicial. O advogado André Petzhold Dias pediu a extinção do processo, sem julgamento do mérito, pois a Defensoria seria “ilegítima” para “atuar em nome próprio defendendo direitos dos familiares”.
O advogado pediu ainda que seja “reconhecida a prescrição de qualquer indenização relativa a fatos ocorridos há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda”. Ele revelou que requisitou “informações sobre os fatos narrados nos autos e sobre a regular aplicação do direito controvertido pela administração pública”, porém “não recebeu resposta até o momento, motivo pelo qual protesta pela posterior juntada de tais informações”.
No meio da peça, há esta preciosidade: “Com a devida vênia, para se analisar se a duração do processo não foi ‘razoável’, consideradas todas as peculiaridades do caso, o mínimo que se deve esperar é a conclusão do processo”.
Fonte
O post “Assassinos de indígena estão impunes há 36 anos. “A dor da gente não prescreve”” foi publicado em 30/10/2024 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública