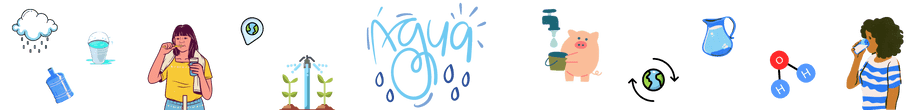Quando as bases do Sistema Único de Saúde (SUS) foram lançadas, em 1986, na 8a Conferência Nacional de Saúde, o dr. Gastão Wagner de Sousa Campos concluía o mestrado em medicina preventiva. O título de sua dissertação – “Os médicos e a política de saúde: entre a estatização e o empresariamento dos serviços de saúde” – coincide com o caminho profissional que traçaria a partir dali; sua tese de doutorado foi defendida um ano depois da criação do SUS, regulamentado em 1990, dois anos depois da Constituição cidadã. Desde então, o dr. Gastão acumula os afazeres de médico e professor da Unicamp com a militância pela saúde pública. Presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) até o ano passado, ele continua a lutar pela permanência do SUS, que, apesar de sofrer com a falta de recursos desde a fundação, é responsável por uma das maiores coberturas públicas de saúde no mundo.
“Se a sociedade brasileira não pelejar pelo SUS no cotidiano, quando for votar e escolher quem é a favor do SUS, se os profissionais não defenderem o SUS, ele fica muito mais ameaçado. Nos estudos que os políticos e sociólogos fazem – por exemplo, do sistema inglês, bem mais velho que o nosso, tem 90 anos já –, quem fez a defesa principal do SUS inglês foram os profissionais, os trabalhadores da saúde, que buscam apoio na sociedade e encontram. Se deixar por conta dos governantes, aí eu sou pessimista”, diz quando indagado sobre o futuro do sistema de saúde que atende 160 milhões de brasileiros e universalizou as vacinas e o tratamento contra a aids e contra alguns tipos de câncer.
Leia a entrevista feita e descubra por que o aumento da mortalidade de adultos nos últimos cinco anos e o da mortalidade infantil nos últimos três estão diretamente ligados à queda de recursos para o SUS, o que tende a se agravar neste governo, com as medidas propostas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
Observação: a entrevista foi feita na semana passada, antes das medidas anunciadas ontem pelo governo Bolsonaro.

Qual a atual situação do SUS e que impactos as medidas de Paulo Guedes podem ter sobre a saúde?
Ao longo dos seus 32 anos, o SUS sempre foi subfinanciado, ou seja, já havia recursos insuficientes para o tamanho da necessidade de saúde da população, da extensão da cobertura do SUS. Mas isso se agravou, principalmente a partir da aprovação da emenda constitucional do teto de gastos, porque há mais ou menos cinco anos o orçamento federal para saúde, para o SUS, não repõe nem o valor da inflação, e aí ficamos com o fixo em torno de 210, 216, 220 bilhões [de reais], o que, na prática, é uma redução do gasto em saúde. Isso, evidentemente, tem consequências; a gente já tem investigação epidemiológica indicando o aumento da mortalidade de adultos nesses cinco anos, inclusive com artigos publicados em revistas internacionais da área de saúde. Por quê? O SUS reduziu a capacidade de compra de insulina para diabetes, de remédio para hipertensão. E as pessoas que dependem do SUS, que são 70% da população brasileira, têm aumentado o risco de internação, de agravamento dessas enfermidades crônicas e de morte. A gente já tem objetivamente a diminuição da expectativa de vida de adultos. E já tinha uma análise dos últimos três anos mostrando o aumento da mortalidade infantil depois de 25 anos de queda rápida. A gente tem uma inversão da curva na mortalidade das faixas menor de 1 ano e, também, menor de 5 anos. Então, o problema do financiamento é muito grave, é concreto. E o objetivo do ministro Paulo Guedes é diminuir ainda mais o gasto em saúde e educação. Ele teve que retirar da proposta que o Ministério da Economia mandou ao Congresso a inclusão do gasto com aposentadorias de trabalhadores, de profissionais da saúde, no gasto obrigatório [com saúde], porque os presidentes da Câmara Federal e do Senado avisaram que não iriam apoiar. Isso reduziria em torno de 18% a 20% do gasto, que já é insuficiente. Mas eles insistem na proposta de desindexação do gasto municipal com saúde e educação, o que também vai ser um desastre; o volume de investimentos no SUS vai ficar ao arbítrio de cada prefeito e de cada governador. Porque o previsto é que, nesse mínimo de 15% do orçamento que eles são obrigados a gastar em saúde, não pode entrar o pagamento de funcionários aposentados, coleta de lixo, apesar de tudo isso indiretamente ter a ver com a saúde. São 15% estritamente no SUS, na atenção à saúde, preventiva e assistencial. E os estados são obrigados a gastar 10% do orçamento estadual. E é isso que o ministro da Economia, com essa ideia de redução a qualquer custo dos gastos públicos, à custa da vida das pessoas, quer mudar. O problema para ele – e a solução para nós – é que ele precisa de emenda para mudar a Constituição, dois terços de aprovação no Congresso, o que é bem mais difícil.
Você acha que está em curso uma campanha contra a saúde pública, a favor da privatização, em que se diz que o SUS é um elefante branco, que não funciona…
Há um movimento geral de desconstrução de políticas públicas. A ideia é que cada um que se vire no mercado. Isso é uma tragédia anunciada num país muito desigual, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O SUS tem tido uma capacidade de resistência maior, apesar de todos os problemas que tem, do que outras políticas públicas. As universidades públicas, a política de ciência e tecnologia têm sido muito mais atacadas proporcionalmente do que a área da saúde. É que a desconstrução do SUS produz o que a gente chama de barbárie sanitária: num tempo muito curto, muita gente morre. Toda a vacinação do Brasil, 80% do tratamento de câncer das pessoas são através do SUS. Então reduzir isso, politicamente, é muito delicado.
A gente vê reportagens mostrando as filas dos hospitais, a dificuldade de fazer exames e cirurgias. Isso não leva os brasileiros a acreditar que o SUS é um sistema que não funciona?
Eu acho que é um paradoxo: a força do SUS é a sua existência e a debilidade do SUS são os vazios assistenciais, a burocracia, a desigualdade: numa cidade tem fila para tal tipo de câncer, em outra cidade tem outra, em outra região não tem acesso ao tratamento de câncer. O SUS é muito heterogêneo e tem muitos problemas. O necessário seria investir para corrigir essas falhas, mas estamos agravando esses problemas. Só que é uma desconstrução lenta, sabe? Os políticos municipais, federais e estaduais não têm muita coragem de viver com isso de fechar hospital; eles fazem de forma estratégica, usando meios que dificultam a compreensão da população, como essa proposta do ministro da Economia. E todo esse radicalismo liberal contra política pública, servidor público, contra universidade, está atingindo o SUS. E aí vira só resistência, a política pública não consegue avançar, se renovar. Então, o SUS tem essa situação ambígua. As pessoas se queixam muito, mas não querem que retirem o que já têm.
Comparado a outros países que têm sistemas de saúde privados, como se sai um serviço público como o SUS? É de fato ineficiente? Como é em relação a países como a Inglaterra, que tem sistemas públicos também?
Na comparação, os países com os sistemas privados de saúde predominantes, como os Estados Unidos, perdem: são caros, têm menor produtividade. Ao contrário de outras áreas – na telefonia, por exemplo –, o mercado produz mais barato e com mais produtividade; na saúde e educação, já há pesquisas indicando que não é assim. Os sistemas públicos gastam melhor e têm uma cobertura maior, uma inclusão maior, um acesso maior a medicamentos, vacinas. E comparar o SUS a sistemas públicos de saúde de outros países é difícil. Tem 160 milhões de pessoas que só usam o SUS no Brasil. É muita coisa, é maior que a população da Inglaterra. Na Inglaterra, 96% das pessoas – ou em Portugal, 98% dos portugueses – usam o sistema nacional de saúde, o SUS deles. No Brasil, regularmente é 60% a 70% que usam o SUS, mas, como a gente tem pouco recurso, a nossa cobertura é menor e é muito heterogênea. Nas cidades do Nordeste, o acesso ao SUS é pior do que aqui no SUS do Sudeste. Se no SUS do Sudeste você pegar uma cidade como São Paulo, os centros e os bairros intermediários têm um acesso muito melhor do que as pontas, do que as periferias, onde moram 40% da população de São Paulo, onde moram 40% da população de Campinas. O SUS é um sistema público que devia se voltar aos mais carentes e vulneráveis, mas isso acontece muito lentamente. Eu estava vendo essas estatísticas da mortalidade por câncer no Brasil: quanto mais pobre, maior a mortalidade; quanto menor a renda, maior a mortalidade por câncer. É assim.
E isso é por falta de acesso a medicamento, a terapia, a cirurgia? Qual é o nó?
Falta de acesso à atenção em saúde. Quem tem acesso? O SUS garante a quimioterapia, garante medicamentos, não têm faltado. Mas, se a pessoa é pobre, ela vai no posto de saúde na periferia, e a equipe lá, o médico, a enfermeira, desconfia de câncer de mama: o acesso à mamografia é difícil, desorganizado, não dá para você sair com a consulta marcada como deveria ser. A expansão do SUS não se dá conforme a vulnerabilidade da população; se dá conforme a capacidade de pressão política. A gente tem concentração de hospitais em algumas cidades e, dentro das cidades, em algumas regiões. Na parte preventiva, o SUS universalizou algumas coisas, independentemente da renda, da classe social. Vacinas, por exemplo, o SUS universalizou e democratizou: a cobertura de vacinas é alta, e hoje em dia são os setores da classe média e da classe alta que estão se recusando a tomar a vacina. Agora, há 30 milhões de pessoas no Brasil que não têm a água tratada até hoje, 50% da população sem saneamento – esgoto a céu aberto –, e não é só na zona rural, nas cidades também, em ocupações, favelas. Então, acaba tendo diferença na prevenção também. Essa desigualdade econômica, social, cultural, política interfere. Outra área que é preventiva e é assistencial ao mesmo tempo e que o SUS universalizou: as políticas em relação à aids. A gente não vê diferença de mortalidade de pessoas que vivem com aids entre as que têm renda baixa e a população de classe média ou com maior poder de renda. Porque o SUS foi atrás de acesso, do diagnóstico e tratamento e orientação de prevenção, quase que universal. Em relação ao câncer, isso já não acontece, embora alguns [tipos de câncer] quase tenham se universalizado, como o câncer de útero, de colo de útero, que depende do tratamento de prevenção, de fazer papanicolau. E poderia se universalizar porque a gente briga no SUS para as enfermeiras poderem fazer também, mas os médicos não querem. Mesmo os médicos proibindo, as enfermeiras fazem, e assim cerca de 70% ou 80% das mulheres brasileiras fazem papanicolau. E a gente tem uma queda em todo o Brasil, mais acentuada em algumas regiões, que tem levado quase ao desaparecimento de câncer de útero através da prevenção e do tratamento logo no comecinho. O câncer, quanto mais cedo tratar melhor, então precisa universalizar o acesso. A desigualdade prejudica na área preventiva e na área assistencial.
Os médicos brasileiros lutam por seus privilégios. Muitos deles, por exemplo, foram contra os médicos cubanos, e agora a gente vê que o governo não conseguiu preencher todas as vagas. Que impacto tem isso na saúde pública?
Se não tem o Mais Médicos, tem que ter uma política de garantir o funcionamento, a expansão, o acesso e a qualidade da atenção primária à saúde, essa rede de saúde – postinhos, unidades básicas de saúde, onde se faz vacina, onde se cuida de diabetes, hipertensão, pré-natal, o cuidado das crianças, enfim. Vários problemas de saúde hoje em dia, no mundo inteiro, se resolvem na atenção primária. E temos dificuldades em colocar médicos na atenção primária, os médicos brasileiros querem ser especialistas, trabalhar em hospitais. E o ministério, o SUS, nunca desenvolveu uma política de atenção adequada. Mesmo com o Mais Médicos, a gente tinha uma cobertura de somente 55% da população. A cobertura recomendada para acompanhamento e atenção primária é de 80% da população. Agora caiu para cerca de 40%, e, com os cortes orçamentários do governo federal e a crise orçamentária das prefeituras – quem contrata atenção primária é principalmente a prefeitura –, há uma grave diminuição do atendimento em todo lugar. Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito está fechando unidades básicas de saúde, demitindo médicos e enfermeiros, uma crise na cobertura de atenção primária, que tinha avançado e está recuando. Isso também explica esse aumento de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos, abaixo de 1 ano e de adultos com doenças crônicas.
Alguns dados apontam também para um aumento de mortalidade materna. O senhor tem alguma notícia sobre isso?
Então, a mortalidade materna está caindo devagar, e já estava caindo devagar antes. Ou seja, não se avançou. A mortalidade infantil caiu rapidamente, mas a mortalidade neonatal, que é o primeiro mês de vida, também cai muito devagar no Brasil. Tanto a mortalidade de crianças de até 1 mês quanto a de mulheres no parto e pós-parto são altas porque estão ligadas ao atendimento hospitalar, onde o SUS tem um impacto menor. Os hospitais não seguem muito as normas do SUS, principalmente pelo corporativismo médico. Aí cada um faz o que quer, do jeito que quer e entende. E, apesar de 80% das mulheres no Brasil fazerem o pré-natal regularmente com mais de sete atendimentos durante os nove meses de gravidez, o que é o mínimo necessário, o parto e a assistência ao parto são muito ruins no Brasil, e a gente tem esse problema que é a epidemia de cesarianas.
E isso está diretamente ligado à mortalidade materna? A cesariana é mesmo mais perigosa para a mãe?
O risco de se fazer uma cirurgia de anestesia geral, de ter infecção hospitalar é muito maior. Por incrível que pareça, se você pegar por classe social, a mortalidade materna é tão alta entre os ricos da classe média alta quanto entre a população mais pobre, porque no setor privado 96% dos partos são cesarianas, no SUS é 46% – e ainda é muito alto. A recomendação mundial da OMS é de no máximo 20%. Ou seja, há uma mistura de mercado com dificuldades de atendimento no parto normal – a mortalidade é menor, mas não é simples. Apesar de o SUS pagar, os médicos não fazem analgesia em quem é negra e pobre – e eu estou falando em bases estatísticas que mostram que eles se recusam muito mais a fazer analgesia em mulheres negras do que em mulheres brancas.
Eles se recusam a fazer analgesia nas mulheres negras?
Tem uma pesquisa da Fiocruz, “Nascer no Brasil”, com dados que indicam isso, sim (clique aqui para ver essa parte da pesquisa). O que falei sobre o aumento da mortalidade adulta no Brasil nos últimos cinco anos está em um artigo que saiu em novembro agora no Lancet. São vários autores, mas o autor brasileiro mais conhecido é Maurício Barreto. E há um ano e meio foi publicado um artigo sobre mortalidade infantil que mostrou o efeito positivo da expansão da estratégia de saúde da família de atenção primária e do Bolsa Família.
Os efeitos são assim rápidos, então? Quando há queda de renda, aumento do desemprego, quanto tempo demora para a gente perceber isso na saúde pública?
É o que eu estou te falando: o efeito é bem rápido. Pode piorar em cinco, mesmo em três anos. Quando tem uma crise no crescimento econômico com repercussão social, aumento do desemprego, diminuição do salário mínimo real, da capacidade de compra das pessoas, é muito rápido o aumento da morte de idosos e de crianças. Essa história de que o crescimento da economia por si só garante o bem-estar, de que é necessário a economia crescer para se ter política pública como a do SUS, salário desemprego, Bolsa Família, é falsa. O crescimento do mercado tende a concentrar renda se não houver a política pública que impõe limites através de impostos e do redirecionamento dos gastos. Precisa ter um Estado democrático, aberto e transparente, porque, se tiver corrupção, politicagem e apadrinhamento, as políticas públicas entram no orçamento, mas não têm efetividade. Temos que garantir uma gestão do governo adequada. Tudo depende de política. O governo brasileiro atual e grande parte da imprensa dizem que, se houver crescimento econômico, será tudo resolvido, transporte público, habitação. Mas não é assim.
Como o aumento da violência aparece nos dados de mortalidade?
A mortalidade por violência no Brasil vem crescendo, e 90% dessa mortalidade tem duas razões: a violência urbana – assassinatos ligados ao narcotráfico, milícias, conflitos de gangues e com a polícia, que atinge principalmente os jovens negros – e a outra causa importante é o trânsito. A gente tem de 66 [mil] a 74 mil mortes por assassinato por ano e cerca de 40 mil mortes por ano pelo trânsito. Agora, além da mortalidade, imagina o número de pessoas que precisam de cirurgia, de reabilitação, de próteses, que sobrevivem às tentativas de assassinato, aos acidentes de moto. Isso é muito maior do que o número de mortos, e mais de 90% [são] tratados no SUS. Porque terapia intensiva, cirurgia, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, traumatologia grave, tudo isso começa pelo SUS. E quem tem convênio sai depois para continuar o tratamento.
Uma última pergunta só para fechar. O SUS tem salvação? O senhor acha que é possível a gente manter esse sistema público de saúde e num funcionamento mais eficiente? É uma questão de vontade política, uma questão de orçamento…
Estamos nisso, em garantir a sobrevivência do SUS. Se vai sobreviver ou não, só Deus sabe. Mas há muitas possibilidades e a necessidade do país também é muito grande. Parece que a sobrevivência do SUS – eu queria chamar atenção para isso – depende muito do governo. E depende do governo, do orçamento público, do Estado brasileiro, das leis. Mas depende muito, talvez até mais, da população e da sociedade e, particularmente dentro da sociedade, dos profissionais de saúde. Se a sociedade brasileira não pelejar pelo SUS no cotidiano, quando for votar e escolher quem é a favor do SUS, se os profissionais não defenderem o SUS, ele fica muito mais ameaçado. Nos estudos que os políticos e sociólogos fazem – por exemplo, do sistema inglês, bem mais velho que o nosso, tem 90 anos já –, quem fez a defesa principal do SUS inglês foram os profissionais, os trabalhadores da saúde, que buscam apoio na sociedade e encontram. Se deixar por conta dos governantes, aí eu sou pessimista.
Você encontra o post Aumento de mortalidade no país está diretamente ligado a corte de verbas no SUS diretamente na fonte Agência Pública