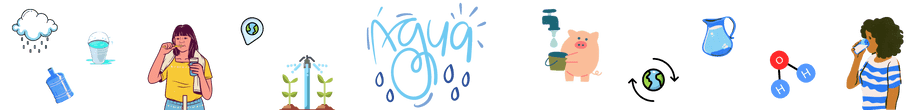Fábio Pereira, de 46 anos, estava a caminho de um compromisso quando a Polícia Militar o parou na Praça da República, no centro de São Paulo. Um casal tinha sido assaltado e a polícia buscava suspeitos; duas crianças já estavam paradas ao lado da viatura, de costas e com as mãos na cabeça. O casal não reconheceu nem Fábio nem os meninos, mas a polícia não liberou os três. Fábio tentou argumentar, mas um dos policiais o chamou de “folgado” e pediu o RG dele. “Ah, agora o papo é diferente, ladrão”, disse o policial ao consultar a base de informações e ver que Fábio tinha uma passagem pela prisão havia quase vinte anos.
Negro, pobre, criado na zona sul de São Paulo, Fábio cresceu vendo e sofrendo agressões verbais e físicas da polícia. “Ser um jovem negro na periferia querendo exercer sua juventude já é uma situação de risco, porque a violência policial se dá no cotidiano”, diz. Hoje, Fábio atua como articulador político da Amparar, movimento de amigos e parentes de pessoas presas, que ele conheceu quando trabalhava como estagiário da Defensoria Pública. Fábio representa a Amparar no diálogo com órgãos públicos e junto a outros movimentos, como Pastoral Carcerária e Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Nas comunidades, o projeto oferece auxílio jurídico e psicológico gratuito a famílias de presos.
Informação fundamental no sistema de justiça, a anotação criminal se torna um estigma para quem saiu da cadeia. Mas há muitos outros estigmas – das dívidas com o poder público à falta de documentação completa. Tudo isso impede a ressocialização dos ex-presos, que acabam empurrados para a ilegalidade.
“Você sai marcada da cadeia. Se você já era estigmatizado por ser pobre, preto, desempregado, favelado; quando sai como ex-presidiário, você acha que as pessoas vão te dar emprego?”, ironiza Camila Felizardo, de 32 anos. Camila foi presa entre os 17 e 18 anos, depois de passar por uma gravidez na adolescência e dependência química. Acabou condenada por tráfico de drogas aos 18 anos, quando sua única experiência no mercado de trabalho tinha sido como Jovem Aprendiz de uma unidade do McDonald’s. Depois de quatro anos na prisão, ela saiu em liberdade com 22 anos e com uma dívida de R$ 9 mil.
A dívida, ela aprendeu na marra, resulta das chamadas penas de multa, definidas pela Justiça no momento da sentença da pessoa, considerando o tipo de delito e a avaliação do juiz. A multa consta no Código de Processo Penal, e o pagamento é previsto para o momento em que a pessoa é solta, com a pena cumprida. A pena de multa é calculada a partir do salário mínimo, sendo que cada “dia multa” corresponde a 1/30 do salário mínimo vigente no ano da condenação. Para crimes como tráfico de drogas, o mínimo da sentença é de 500 dias multa. Reportagem da Agência Pública mostrou que, desde 2019, não pagar as penas de multa impede, na prática, a extinção da pena. Quem não paga fica com o CPF irregular e os direitos políticos suspensos, sem poder votar. Também fica sujeito a penhora de bens ou bloqueio dos valores em conta bancária.
“É uma dívida com o poder público, é pior que o dever para Serasa, PCC e polícia”, resume Camila. Com ensino médio incompleto, pouca experiência de trabalho e antecedentes criminais, ela não tinha condições de pagar a pena de multa. Com o alvará de soltura em mãos, sua única preocupação foi se voltaria a ser presa caso não pagasse o valor. O agente penitenciário garantiu que não, mas avisou que seu CPF ficaria omisso e que ela não poderia sair do país, uma possibilidade tão fora da sua realidade que ela nunca imaginou que iria quitar a dívida.
Quando foi solta, em 2007, Camila voltou a morar com os pais, trabalhou por um ano em uma serralheria de alumínio, matriculou-se em um curso de manicure e começou a fazer unhas. Mas as clientes da esmalteria queriam pagar no cartão. Quando Camila foi ao banco abrir conta e pedir uma máquina, esbarrou na pena de multa não paga. Sem CPF, não é possível abrir conta em banco.
Camila resolveu como pôde: para continuar trabalhando, pediu a máquina de cartão em nome de outra pessoa. E, aos poucos, em parcelas, conseguiu pagar a pena de multa. “É uma dupla penalização; porque, mesmo depois de já ter cumprido a sentença, você não é tratado como cidadão, você não tem acesso ao seu documento; então, vira uma pena perpétua”, afirma.
Foram oito anos agachada fazendo unhas, até que ela decidiu retomar os estudos, num grande esforço familiar, com mensalidades pagas a dez mãos. Mesmo assim, o dinheiro não deu. Camila ia abandonar de novo a escola quando conheceu o Projeto Nova Rota, que oferece bolsas de estudo e atendimento psicológico para egressos. Iniciativas como o Nova Rota são importantes, mas não têm fôlego para absorver a demanda. Entre janeiro e junho de 2023, 36 mil pessoas saíram do sistema prisional no estado de São Paulo. No país inteiro, são 214 mil pessoas só no primeiro semestre de 2023, pelos dados da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais).
“Egressos do sistema prisional enfrentam grandes dificuldades com documentação. Geralmente os documentos são destruídos ou se perdem no percurso prisional, logo é preciso refazer tudo, mas as penas de multa não pagas impedem que a pessoa tenha um CPF e uma vida regularizada. Por isso as pessoas vivem uma tensão constante entre o legal e o ilegal”, explica Catarina Pedroso, psicóloga e mestranda em Antropologia Social que estuda, desde 2013, como a passagem pela cadeia regula, para sempre, a vida de pessoas que passaram pelo sistema prisional.
Para sua pesquisa, Catarina entrevistou desde pessoas que tinham saído do cárcere havia três meses até quem tinha saído havia dez anos. A perseguição policial é um ponto comum entre todos. “Uma pergunta recorrente em abordagens é se a pessoa tem passagem pelo sistema prisional; em chacinas, muitas testemunhas afirmam que os policiais perguntam se a pessoa tem passagem e, se sim, ela é executada”, relata. “Muitos egressos param de frequentar espaços de convívio social para evitar uma possível abordagem policial. A ideia de voltar da prisão é muito presente, como se a passagem pela prisão produzisse mais prisão.”

Simone Kelly da Silva, 44 anos, foi presa durante os crimes de maio de 2006, quando 505 civis foram assassinados pela Polícia Militar e por grupos de extermínio em São Paulo em retaliação à execução de 59 policiais pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Já tinha passagem pelo sistema: em 2000, ficou três meses presa por roubo e estelionato. Quando saiu, compareceu às audiências e foi condenada. Decidiu não voltar, consciente dos riscos de ser considerada foragida. Trabalhava de terça a domingo como manicure em Guarulhos para sustentar os três filhos e não queria voltar para a cadeia.
Em maio de 2006, depois de uma longa noite de febre, um dos filhos de Simone acordou se sentindo mal. Logo que amanheceu, Simone o levou para o Hospital Municipal de Urgências do Bom Clima, em Guarulhos. Eles estavam na triagem quando viaturas da ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) começaram a estacionar na frente do hospital. Os policiais desceram do carro, abriram o porta-malas, puxaram quatro ou cinco corpos pelos pés e deixaram na frente do hospital. A cena se repetia, viatura após viatura.
“Ninguém estava vivo ali mais: era descarte”, relembra Simone, que na hora ligou para a família pedindo ajuda. “Fui recapturada no meio daquele rebuliço, no hospital mesmo. Foi minha sorte. Só não morri na mão da polícia porque minha família chegou para pegar meu filho. Naqueles dias, quem foi pego na rua sozinho e tinha passagem, morreu.”
Exceção dentro do sistema, conseguiu trabalhar em duas empresas que contratavam condenados do regime semiaberto, Pulvitec e Voller. Segundo dados da Senappen, 154.531 pessoas presas trabalham no Brasil, entre condenados de regime fechado, aberto e presos provisórios, ou seja, que ainda aguardam julgamento. Representam apenas 23% da população carcerária brasileira. A Senappen coletou dados de 135.344 pessoas presas que trabalham, o que representa 87% da população prisional envolvida em alguma atividade de trabalho. Dos 135 mil, 68.161 recebem alguma remuneração, enquanto 67.183 pessoas não recebem salário, somente a remição de pena – cada três dias trabalhados significam um dia a menos de sentença.
Na época em que Simone conseguiu trabalho dentro do cárcere, o salário mínimo era R$1 mil. Como a mão de obra encarcerada pode ser mais barata, mas não menos que 75% do salário mínimo, Simone recebia R$ 400, dinheiro que era enviado para sua mãe e seus filhos, mais a remição de pena. O restante do pagamento, R$ 350, ia para uma conta poupança, a fim de que os trabalhadores tivessem alguma reserva quando saíssem da cadeia. Simone também fazia unhas decoradas dentro da cadeia, R$ 40 pé e mão. Atendia outras detentas e visitantes no fim de semana. A moeda de troca dentro da prisão é o cigarro, mas Simone pedia que as visitantes depositassem o dinheiro diretamente na conta bancária da sua mãe.
Cinco anos depois de ser presa no hospital, Simone deixou a cadeia. Nada lhe avisaram sobre a pena de multa. No dia marcado, levou o alvará de soltura ao Fórum da Barra Funda para dar baixa na captura, etapa crucial para que o sujeito conste no sistema como egresso e não como foragido (o que acarreta risco de ser recapturado). Só aí foi informada da multa que teria de pagar ao Estado: R$ 224, resultante da soma de 10 dias-multa de uma condenação de 2001 mais 13 dias multa de uma condenação de 2007, quando foi recapturada.
Para ela, não fazia sentido ter que pagar depois de ter cumprido toda sua sentença. Além disso, em 2010, outras urgências tomaram sua atenção. Descobriu que o companheiro vendera a casa da família e levara os filhos. Enquanto buscava pelo paradeiro deles, Simone também se inscrevia em vagas para serviços de limpeza. A vida era uma sequência de portas fechadas, até que Simone reencontrou a família no interior de São Paulo e cobrou do ex-companheiro sua parte da venda do imóvel. Uma semana depois do reencontro, uma surpresa a atingiu como uma bigorna. A pedido do pai das crianças, ela foi internada à força em uma instituição psiquiátrica.
Fugiu da instituição, mas viu-se tomada pela angústia. As crianças seguiram com o pai, que proibiu o contato deles com Simone. Sem a determinação que a mantivera sóbria durante o tempo na prisão, passou a morar na rua. Caiu no crack e virou alvo constante da violência policial. Foi quando conheceu o Consultório na Rua, uma estratégia do Plano Nacional de Atenção Básica que, vinculado às UBS, direciona uma equipe de saúde e assistência social para quem vive na rua.
Simone se engajou no processo de redução de danos oferecido pelo Consultório da Rua. Pouco depois, foi selecionada para trabalhar como agente de saúde no território. Foi a primeira porta que se abriu para ela. Desde então, saiu das ruas e trabalha no Consultório na Rua. Deixou o crack quando engravidou do seu caçula, hoje com 8 anos. Juntou-se também à luta por moradia, mas a comunidade do Cimento, onde vivia, foi incendiada horas antes de uma reintegração de posse. Por isso tudo, Simone apresenta seu filho como “Derick, o filho da luta”.
Hoje ela vive em uma ocupação no Brás, onde famílias dividem três andares de uma antiga escola em dezenas de barracos de madeirite. Muitos moradores são também egressos do sistema prisional e enfrentam os mesmos problemas vividos por Simone. Ela agora quer fazer uma brinquedoteca para as crianças e começar uma horta onde tem terra, mas o relógio corre no sentido contrário: os moradores enfrentam uma ordem de reintegração de posse marcada para o dia 9 de janeiro de 2024.
Falta de documentos, trabalho precário, moradia irregular – situações assim, à margem da garantia de direitos, acabam aprisionando novamente egressos do sistema prisional. O vácuo de políticas públicas é determinante para esse cenário. Muitos nem conhecem os programas que já existem. Camila Felizardo afirma que só descobriu o Centro de Atenção ao Egresso e Família (CAEF), iniciativa estadual paulista para acolher a comunidade egressa, dez anos depois de estar em liberdade, quando começou a cursar Assistência Social. O mesmo aconteceu com Fábio Pereira. Nenhum foi orientado a buscar o CAEF ao sair da prisão. Simone Kelly só descobriu durante a entrevista para esta reportagem por que seu título de eleitor estava suspenso até ano passado: mais uma consequência das penas de multa não pagas. O estigma de ser ex-presidiário persiste, tanto nas ruas quanto institucionalmente.
A população carcerária do Estado de São Paulo soma 195.787 presos, dos quais 20% trabalham dentro da prisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o Centro de Atenção ao Egresso e Família (CAEF) é um programa com a missão de criar metodologias para desenvolver políticas públicas para egressos. “São ações transformadoras para que, ao deixar a prisão, a pessoa possa reconstruir a sua vida ao lado da família, minimizando o estigma do cárcere”, explica a coordenadora de Reintegração, Carolina Passos Branquinho Maracajá.
Somente em 2023, o CAEF fez 180 mil atendimentos – um total que concentra de tudo um pouco, desde pedidos de informação feitos por parentes de presos a encaminhamentos para espaços em que os egressos possam buscar moradia e trabalho. Desde 2018, são pelo menos 130 mil atendimentos por ano, mas os relatos de quem sai da prisão mostram que muitas vezes as políticas de ressocialização não alcançam quem mais precisa. Segundo levantamento da Justa, organização que pesquisa o tema, no estado de São Paulo, para cada R$1.769 gastos com polícias, só R$1 se destina a políticas públicas para egressos.
“Quando você tem passagem, é diferente: independente de onde você estiver, a polícia já te chama de vagabunda e começa a te interrogar como se você ainda estivesse envolvida com o crime. Os policiais vêm com um papo de onde tá a biqueira, onde tá a droga, onde tá a arma. Ou ameaçam: ah, não vai falar que eu quero ouvir? Vou jogar vinte pedras de crack em você e quero ver”, relembra.
Simone trabalha, luta, segue firme. Nunca pagou a multa, que considerava injusta. Na semana passada, foi ao Fórum e descobriu uma boa notícia: suas penas de multa foram extintas em 2022, graças a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça a respeito do tema durante a pandemia. Treze anos depois de sair da prisão, Simone sabe que não deve nada a ninguém. Mas o medo persiste. Por causa do estigma que a acompanha como ex-presidiária e para preservar a vida do filho, Simone obedece ao toque de recolher implícito em muitas áreas da cidade. “Para os policiais, a gente é só um número sujo, que vai fazer volume para o Estado. Se eles tiverem a oportunidade, vão matar a gente no escuro.”
Fonte
O post “Sem CPF, sem título de eleitor e com toque de recolher: o estigma da vida depois da prisão” foi publicado em 14/12/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública