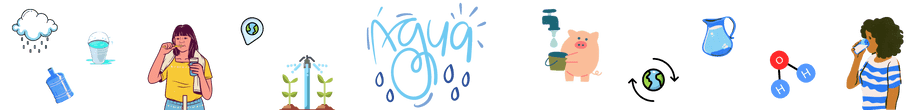Quer receber os textos desta coluna em primeira mão no seu e-mail? Assine a newsletter Xeque na Democracia, enviada toda segunda-feira, 12h. Para receber as próximas edições, inscreva-se aqui.
Cármen Lúcia proferiu o voto fatal. Primeira mulher a assumir a presidência do TSE, em 2012, a mineira também foi responsável pela decisão que retirou Jair Bolsonaro da disputa eleitoral por abençoados oito anos com seu voto pela inelegibilidade. Que seja Cármen, uma mulher, a derrotar o Bolsonaro é fato histórico.
Como ainda cabe às mulheres que se sentam em lugares de poder em um país tão misógino – ainda mais as de sua geração –, Cármen foi contida e técnica; no seu voto, ateve-se ao fato discutido, a reunião de Bolsonaro com os diplomatas estrangeiros dentro do Palácio do Planalto em 18 de julho do ano passado, onde proferiu barbaridades contra o sistema eleitoral.
Por ser mulher, Cármen não tem o privilégio de ser flamboyant como seu colega Alexandre de Moraes, cujo voto foi carregado de adjetivos, expressando, por exemplo, a “repulsa” do Poder Judiciário “ao degradante populismo” renascido “a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos”, que “propagam infame desinformação produzida e divulgada por verdadeiros milicianos digitais”.
Não. Cármen Lúcia foi enfática ao falar que o que se julgava era um retrato – a reunião com os embaixadores –, e não um filme, todo o pesadelo que foi a longa campanha de destruição da confiança nas eleições e apoio a um golpe de Estado pelo infeliz ex-presidente.
Protegendo-se, como sabe fazer toda mulher que já sofreu agressões apenas por ser mulher, e ainda mais as que se viram violentadas pela crueza do bolsonarismo, como ela, explicou: “Estamos julgando para cumprir um dever constitucional. Jurisdição não se escolhe e não se quer. E não é boa nem fácil a função de julgar. Ela é necessária”.
A ministra, lembre-se, já foi atacada pelo próprio Bolsonaro e pelo seu aliado Roberto Jefferson, que, num vídeo publicado nas redes sociais, a chamou de “Bruxa de Blair” e a comparou com uma prostituta, abrindo as portas para o inferno de Dante do acosso das redes bolsonaristas, sempre mais dispostas a linchar uma mulher.
No seu voto, falou brevemente sobre isso: “Nos últimos tempos nós temos sido fustigados com toda acidez com todas as críticas. A crítica faz parte; o que não se pode é um servidor público no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaque contra ministros do Supremo, como se não estivesse atingindo a própria instituição. E não há democracia sem Poder Judiciário independente”.
Citou, ainda, o jurista italiano Francesco Carnelutti para dizer que Bolsonaro tinha a “consciência de perverter”, ou seja, sabia que não tinha razão, mas usou a mentira como método para perverter a confiabilidade e colocar em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral “e portanto da própria democracia”.
Diferentemente do que deixa transparecer no seu voto cirúrgico, Cármen Lúcia tem uma percepção bem aguçada sobre o processo medonho ao qual o Brasil foi submetido nos últimos anos, como eu vim a saber no ano passado. Ela conhece o filme, e não só a fotografia.
Quando eu estava estudando em Harvard, ainda no primeiro semestre de 2022, assisti junto com o professor e pesquisador David Nemer a uma palestra organizada pelos alunos brasileiros da Faculdade de Direito daquela prestigiosa universidade.
Depois de uma apresentação dos estudantes, a ministra apareceu numa tela, enorme – seu rosto cobria quase toda a parede da sala centenária, diante de um pequeno auditório ocupado majoritariamente de advogados. Ela então fez uma exposição sobre um conceito que ela mesma havia criado, o democracídio, o percurso, talvez inevitável, de uma democracia que cria mecanismos de se suicidar através dos seus próprios meios, um fenômeno novo tanto no Brasil como em outros países.
Foi a primeira vez que eu a vi falar, e me marcou como, por trás de um manto de formalidade, ela parecia estar assustada. Naquele dia, depois de meses fora do meu país, saí com um enorme aperto no coração ao ouvir uma representante da principal corte falar de maneira tão contundente e honesta; ela parecia saber que até mesmo a capacidade de resposta do STF era limitada diante do achaque de uma força popular, populista e violenta. E eu passei a admirá-la.
É eloquente que o mesmo ato que levou Bolsonaro ao banco dos réus no TSE, a reunião com os embaixadores sobre a qual discorreu o voto de Cármen Lúcia, tenha sido também o que deu origem a uma das mobilizações mais bonitas da sociedade civil recentemente, a carta e o evento em 11 de agosto rechaçando o golpismo bolsonarista e apoiando o STF.
A única solução contra o tal do democracídio é justamente que as instituições cumpram a sua função, e que sejam aplaudidas e defendidas por isso. Nós, que nos julgávamos rebeldes, tivemos que aprender – e teremos que aprender ainda mais – a defendê-las repetidamente. O que não significa deixar de pedir seu aprimoramento e sua democratização e, claro, seguir investigando também esse poder.
Sabemos que o bolsonarismo não acabou na sexta-feira (30) . E nem a sobrevida política do seu líder, como comprova a iniciativa de deputados do PL de armar um projeto de lei para anistiar o ex-presidente. Sabemos que arrastar a narrativa de vítima, os recursos, os processos fazem parte da estratégia do populismo digital que vive de atiçar seus seguidores via redes sociais. Mas não é porque virão novos estratagemas que devemos deixar de dizer: esta semana, pelo menos, podemos respirar.
É por isso que, hoje, celebro o fato de termos Cármen Lúcia.
Fonte
O post “Democracídio” foi publicado em 09/07/2023 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Agência Pública